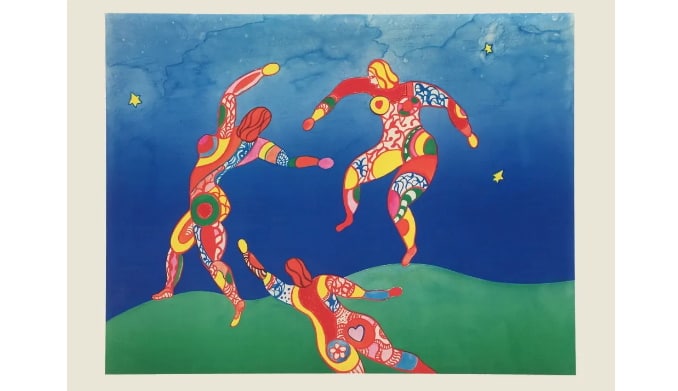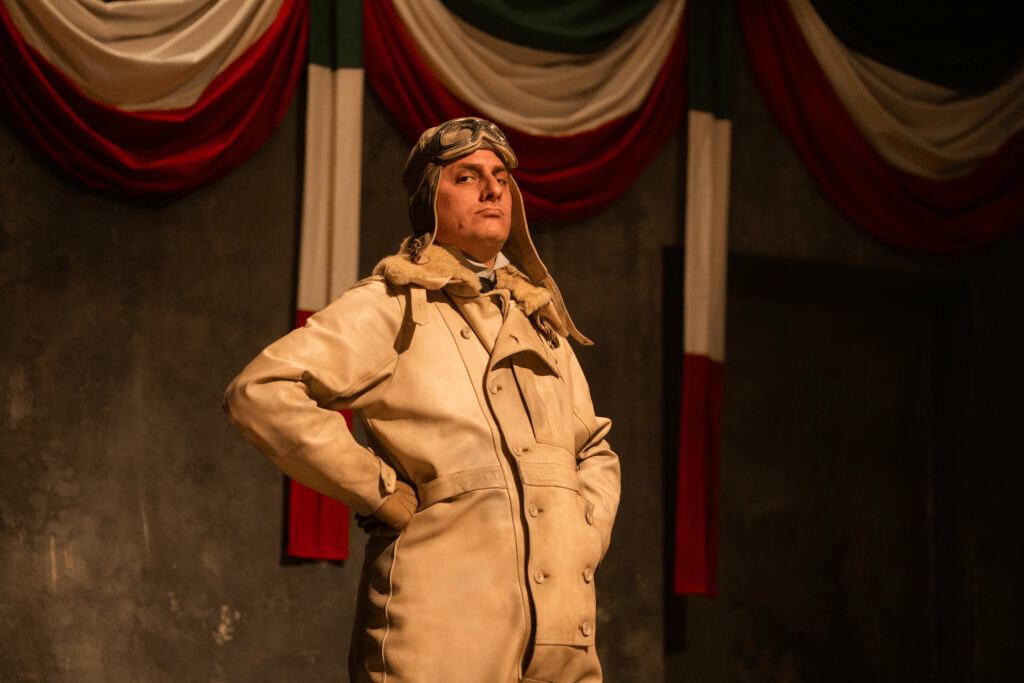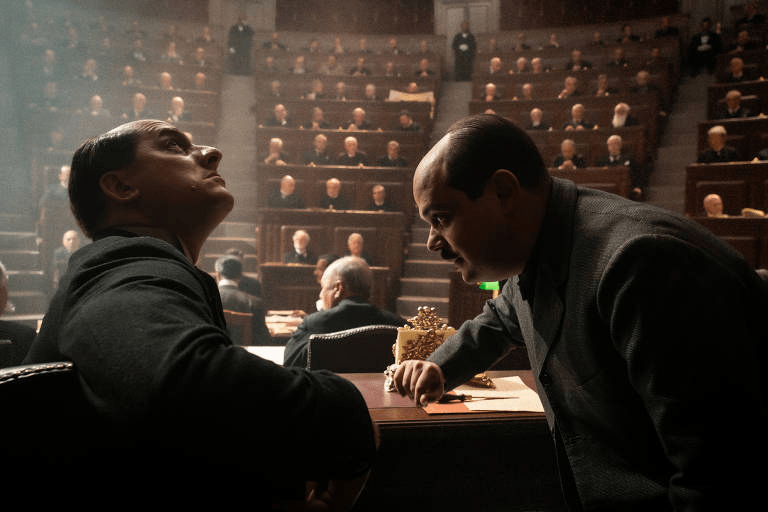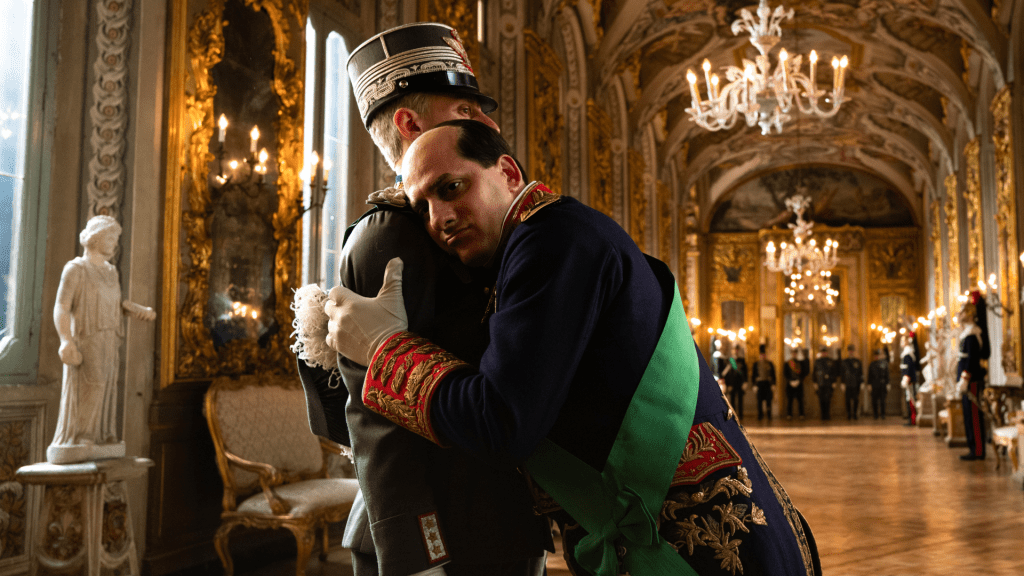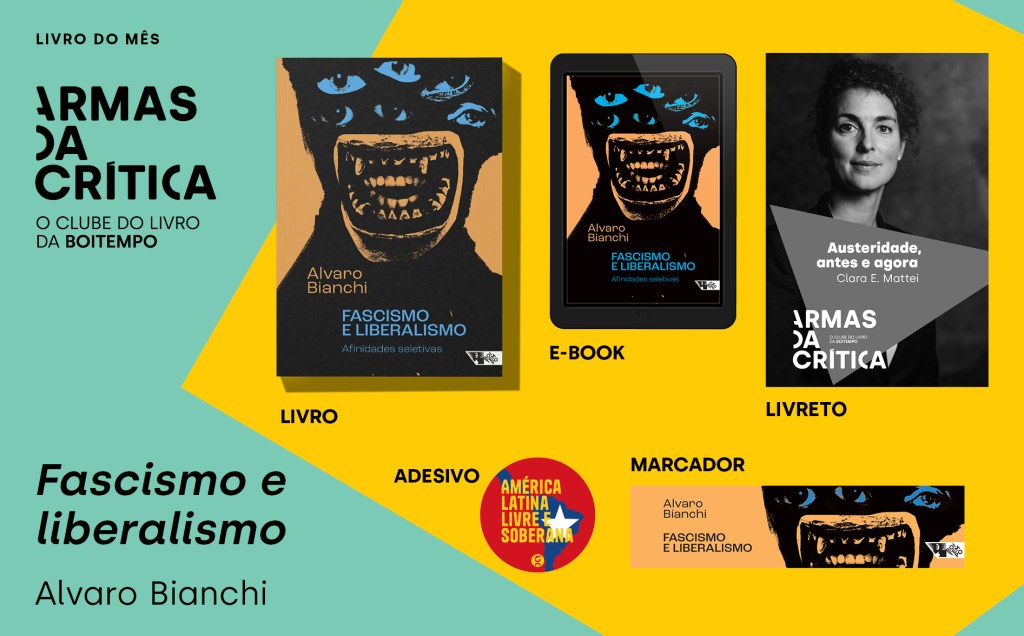Por WESLLEY R. PALOMBARINI*
A passagem para outro estágio evolutivo da humanidade exige uma
nova “psico-antropologia”, baseado numa força produtiva regenerativa, e
não destrutiva, e relações produtivas entre famílias e indivíduos
associados, para realizar a totalidade das potencias humanas possíveis
1.
Poderíamos iniciar um texto sobre relações de trabalho e educação
refletindo sobre o conceito de relação dialógica de Álvaro Vieira Pinto,
assim como através dos conceitos de trabalho social de György Lukács,
ou de qualquer outro autor. No entanto, apesar desses paradigmas serem
válidos e potentes do ponto de vista teórico, a exposição textual
continuaria conservando a lógica idealista, onde o uso apenas de
conceitos para refletir sobre a história material acabaria por
substancializar a ontologia humana com categorias fixas e abstratas.
O materialismo histórico dialético nos permite analisar a ontologia humana a partir da história natural e social do Homo sapiens sapiens,
onde o desenvolvimento tecnológico e as relações de produção mediam a
espécie com o meio natural, determinando a causa primeira do processo
humanizador. E a lógica dialética, por sua vez, nos permite compreender
os movimentos de criação, manutenção e transformação pelo qual passaram
os hominídeos e a nossa espécie ao longo da história.
Desde a revolução produzida pelas obras de Charles Darwin – A origem das espécies e A Origem do homem e a seleção sexual –, sabemos que o H. sapiens sapiens foi
engendrado a partir de ramificações de espécies hominídeas que
evoluíram ao longo de milhares de anos. (RAIMONDI, 2019). Atualmente,
com o avanço da paleantropologia, possuímos provas e experimentos que
comprovam nossa origem, derivada dos símios, desde sete milhões de anos
atrás, com os Australopithecus, ancestral hominídeo que começou a andar de modo mais ereto do que as espécies anteriores.
Passados aproximadamente quatro milhões de anos, depois de termos
aperfeiçoado a estrutura óssea menos curvada, portanto, modelando os
órgãos para funções especializadas, como a mão, os olhos e o cérebro,
outra espécie surgiu como variação do processo evolutivo, trazendo um
salto qualitativo dos processos fisiológicos acumulados do seu ancestral
– o H. habilis.
É consenso entre os paleantropólogos que essa espécie de hominídeo, surgida entre 3 e 2,5 milhões de anos a.p.,[i]
foi a primeira a fabricar seus instrumentos de trabalho – pedra lascada
–, cuja necessidade engendrou relações educacionais e o aperfeiçoamento
da linguagem entre os membros do bando, habilidades necessárias para
reproduzir seu modo existencial. Ou seja, inicia-se, com o H. habilis
a primeira espécie hominídea a criar cultura, trabalho e pensamento
teleológico, isto é, ação com finalidade subjetiva e não apenas
instintual. (NEVES, 2015).
2.
Apesar dos Neandertais terem sido geneticamente compatível com os homo sapiens
– houve cruzamento, eles mantiveram a convivência em bando, e até agora
não há certeza sobre rituais mortuários ou produções artísticas. Eles
se expandiram entre as regiões que hoje é a Europa e a Ásia, e viveram
mais em climas glaciais do que interglaciais.
Devemos a eles o domínio do fogo e a diversificação de ferramentas,
principalmente a confecção de agulhas, o que apresentou um avanço
significativo no processo de humanização, isto é, na ampliação da
economia libidinal para graus mais elevados de satisfação biológica,
social e afetiva. Eles foram extintos em aproximadamente 30 mil a.p.,
provavelmente devido a mudanças climáticas repentinas (Laschamp – inversão dos polos magnéticos, ocorrida entre 40 mil e 30 mil anos atrás). (NEVES, 2015).
Até onde sabemos atualmente, nossa espécie, em sua concepção
biológica, compartilhou com os Neandertais dois ancestrais comuns – o H. Erectus – , espécie que expandiu vertiginosamente os hominídeos para o planeta, vivendo entre 1,8 milhões até 100 mil anos atrás, e o H. heidelbergensis,
que viveu entre 500 mil e 250 mil a.p. No entanto, enquanto os
Neandertais permaneceram no continente euroasiático, nós nos formamos
fisicamente no continente Africano, cuja origem, ainda em debate, parece
proceder do H. sapiens idaltu, isto é, H. sapiens “mais antigo”. (WHITE T.D, 2003).
A caverna de Blombos, na África do Sul, tornou-se o principal sítio
arqueológico com materiais rupestres datados entre 120 mil e 70 mil
anos. A diversidade de conchas e artefatos decorados e espalhados em
sítios próximos demonstram a variedade produtiva daquele povo, fruto de
um conjunto de tribos que mantinham relações econômicas e sociais
complexas, bem diferente do modo das espécies de hominídeos anteriores,
que viviam em bando de 30 a 50 pessoas na era glacial.
O H. sapiens sapiens empreenderam duas ondas
migratórias para a região Euroasiática, uma há 120 mil a.p., e outra há
aproximadamente 60 mil anos atrás, quando parte da África passou a se
desertificar. (NEVES, 2015). Ao chegar na Euroasiática, região de clima
temperado e rico em sua fauna e flora, criou-se condições naturais para
que a evolução hominídea produzisse um salto qualitativo na condição
material e cultural da espécie, engendrando a única espécie de hominídeo
do planeta a desenvolver comunidades racionais – trabalho associado, e
consequentemente, tempo livre, ampliando as capacidades biológicas
herdadas para capacidades psicossociais, como pensamento abstrato,
linguagem e afetos diversificados.
Entre 60 e 40 mil a.p. verifica-se a expansão e aperfeiçoamento das
primeiras expressões de arte rupestre, tendo como registro arqueológico
inúmeras cavernas, como a de Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha.
É neste momento que ocorre o que a paleantropologia denomina de
“explosão criativa”, contexto em que o sentido da ação passa a ser
orientado para o desenvolvimento de habilidades e faculdades livres[ii], não mais unicamente relacionadas às necessidades de autopreservação. (NEVES, 2020)
De aproximadamente 20 ferramentas registrados até 60 mil a.p., na
Europa, a partir de 30 mil a.p., os paleoantropólogos acharam cerca de
100 utensílios diferentes, provavelmente pertencentes à inúmeros
indivíduos que dividiam o trabalho comunitário entre as famílias, com
relativa especialização das atividades por sexo e faixa etária. (NEVES,
2020).
Ou seja, verifica-se, depois de uma certa quantidade de anos do
processo evolutivo – cerca de 3 milhões de anos, um aumento vertiginoso
das forças produtivas e a socialização racional das relações de
produção, cujo resultado foi um salto qualitativo nas relações
existenciais da tribo, onde viver em comunidade passou a ser não somente
sobreviver – alimentar-se e abrigar-se, mas poder criar culturalmente
formas mais livres de experiência em comunidade e com a natureza
(RAIMONDI, 2019).
Assim, a educação passa a ter a finalidade de formar personalidades
segundo um projeto de identidade tribal ideal, não mais apenas um
caçador(a), mas também um(a) possível produtor(a) criativo(a), ou
“mitólogo”, ou artista, ou curandeiro xamã, ou tudo isso junto. Em
relações de comunidade indiferenciada e com boas condições naturais e
culturais,[iii] a educação acontece constantemente e se estende para toda a tribo – pai, mãe, filhos e dezenas de primos, tias, tios e avós.[iv] (ÁLVARO, 2005 & DARCY, 1968 & PONCE, 2008)
3.
O modo de produção de caçador/pescador/coletor organizado em
comunidades tribais na Europa, parte da Ásia, África e Oriente Médio,
existiu entre 40 mil há aproximadamente 10 mil anos a.p., momento em que
os agrupamentos humanos começaram a migrar em grande número, devido a
mudanças climáticas, e formar primeiramente aldeias, e depois cidades de
pequenos agricultores, entre 10 e 5 mil a. p.
As aldeias de povos Natufianos que floresceram na região do
crescente fértil entre 20 mil e 10 mil anos – correspondente aos
territórios da atual Jordânia, Líbano, Síria, Egito, Israel, Palestina,
Irã, Iraque e parte da Turquia –, já possuíam aprimorado desenvolvimento
tecnológico e relações de trabalho associado entre familiares que
começavam a se individualizar. Além de caçarem e coletarem, domesticaram
espécies de cães e iniciaram o processo de agricultura rudimentar.
O grau de especialização do trabalho e das relações psico culturais
desses povos conduziram à revolução agrária aproximadamente em 10 mil
a.p. Os sítios arqueológicos de Göbekli Tepe, Karahantepe, Mendik Tepe,
todos na Turquia, Monte Carmelo, em Israel, e Karim Shahir, no Iraque, apresentam provas valiosas da existência dos povos Natufianos. (BAR-YOSEF, 1998).
Logo depois, mediante a expansão do vilarejo, a diversificação do
trabalho em especializações, como o ferreiro, o marceneiro, o
agricultor, o pastor, os(as) sacerdotes e o trabalho doméstico,
dinamizaram a economia e a sociedade, que era até em tão formada por
aldeias agrícolas indiferenciadas, isto é, não estratificadas em classe e
sem propriedade privada. O desenvolvimento das forças produtivas e das
relações de produção criou a necessidade de um centro administrador,
surgindo então as “Cidades-templo” – centralizadas a partir dos templos
religiosos – como Çatalhöyük e Uruque, aproximadamente entre 9 mil e 7
mil a.p.
Nessas condições, apesar de não haver ainda dominação cruel e
violenta entre as classes, já havia a divisão entre classes sociais e a
propriedade privada, cujo processo de individuação ao mesmo tempo em que
permitiu o desenvolvimento tecnológico, produziu cisões ainda maiores
entre os agrupamentos comunitários. (REDE, 2011)
4.
Com a expansão das “Cidades-templo” e as guerras, a casta militar
entrou em disputa com os sacerdotes, responsáveis pela administração da
cidade, conquistando a hegemonia política. A atividade militar
expansionista gerou a necessidade de aperfeiçoamento tecnológico,
promovendo a indústria dos metais, fortemente utilizada na confecção de
ferramentas militares. É neste período, aproximadamente entre 3 mil e 2
mil a.p., que o Estado político-militar é criado para organizar o que a
literatura especializada chama de “Cidades-estado” ou “Cidade-reino”,
nas regiões do Oriente e Ásia.
O exército e o sacerdócio de cada “Cidade-estado” se uniram para
colonizar povos alheios, utilizando-se da força e da antiga mitologia
para manipular e conduzir a “psico-antropologia” dos povos explorados.
Após certo período, as “Cidades-estados” evoluíram para impérios, e
começaram a guerrear entre elas. Suméria, Acádia, Egito, Pérsia,
Babilónia, Grécia, Roma etc.; entraram num ciclo histórico de disputas
hegemônicas pela dominação imperial do comercio internacional, a partir
das regiões conhecidas na época.[v] (REDE, 2011)
Com as “Cidades-estado”, a guerra passa a ser a principal instituição
responsável pela acumulação de riqueza, determinada pelos interesses
das classes ou castas que dominam os meios de produção e as relações de
trabalho. (ENGELS, 1981 & DARCY, 1987 & REDE, 1996). A educação,
nesse contexto, é dividida da mesma forma que a sociedade, e passa a
ter a finalidade de segregar e dominar.
Entre as classes dominantes, a educação é orientada para as questões
do Estado, onde a formação do caráter guerreiro e o domínio da cultura
religiosa e letrada era o princípio norteador. Neste caso, os filhos dos
soldados aprenderiam a arte militar e administração do Estado, e os
filhos dos sacerdotes eram educados segundo a cultura letrada, mantendo
sua posição de elite associada.
E para os povos dominados, a educação restringia-se à obrigação de
trabalhar em algum ofício sob ordens da elite e obedecer às leis e
costumes religiosos, agora comandados pela parceria entre as castas
militares com a sacerdotal, aliciada para escrever sistemas religiosos
ideológicos como maneira de se manter no poder enquanto serve aos
interesses da casta militar.[vi]
Os princípios educacionais passaram de formação livre, potente e
diversa, para repressões morais e imposições autoritárias, com objetivos
alheios aos do povo dominado.
Com a revolução dialeticamente negativa das “Cidades-estado” – pois a
causa primeira do movimento que elas iniciam contraria o metabolismo
vital da espécie –, as gerações iniciais perdem seu estatuto de humano
em formação integral e as mulheres perdem sua posição de matriarca, isto
é, pela mediação da elite econômica, militar e sacerdotal, degenera-se o
princípio fundamental de conservação da espécie, de modo que as
crianças e as mulheres passam a existir como objetos de posse e de troca
pelo patriarca[vii]. (PONCE, 2008)
5.
Segundo Karl Marx, as múltiplas relações contraditórias entre o modo
de produção e os instrumentos jurídicos, políticos e culturais de
reprodução das injustiças criam realidades aparentes, onde o significado
dos objetos e das relações humanas são invertidos.
O hospital que deveria tratar e curar doenças, torna-se uma empresa,
onde o paciente torna-se cliente e a finalidade da instituição passa a
ser o lucro, fazendo do paciente objeto de exploração por parte dos
sócios anônimos. A instituição escolar, que deveria cumprir a função de
formar pelo menos a psico-antropologia de cidadão burguês, no sistema
capitalista ganha a finalidade de manter a estrutura econômica, social e
política desigual, disciplinando e ideologizando as gerações para
aceitarem e se adequarem às relações contraditórias, hipócritas e
reificadas. (BOURDIEU, 2011).
Nesse caso, os códigos legais e jurídicos de países republicanos
expressam a aparência de uma realidade democrática, isto é, exercem
apenas uma falsa realidade de liberdade, igual e fraternal, enquanto a
essência das relações socio-políticas-econômicas é a reprodução da
dominação de classes e opressão de gênero. (MARX, 1984 e MARX, 2008)
De acordo com Landislau Dawbor, 1% das pessoas do planeta terra
possui mais de 50% da riqueza produzida no globo. Portanto, a
sociológica econômica crítica não hesita em afirmar que a sociedade em
que vivemos é uma continuação dos modos de dominação de classe
existentes desde a formação das cidades Estados antiga, de modo que toda
a estrutura social é separada segundo a posição de cada classe no
sistema produtivo, e que na atual fase do capitalismo, uma super
burguesia internacional comanda as forças estatais dos países
associando-se às burguesias nacionais para explorar os recursos naturais
e as populações do planeta. (DOWBOR, 2017).
No Paleolítico Superior a espécie humana se organizou racionalmente
em estrutura econômica, política e cultural, através de relações
pedagógicas integrais com toda a tribo\aldeia, segundo um projeto de
autoconstrução livre e potente em habilidades e conhecimento. Assim como
no início do processo de humanização da nossas espécie, os indivíduos e
as famílias atuais precisam se organizar racionalmente em nível
econômico, isto é, através do trabalho associado, especialmente em
atividades fundamentais ao metabolismo vital da humanidade, como
alimentação, moradia, saúde e educação e cultura, a partir de um novo
sentido de vida, voltado à formação de intelectuais orgânicos.
Sem a conciliação entre a ontologia humana integral, isto é, não
alienada, e a conservação da natureza externa equilibrada, não há
esperança para o futuro da humanidade. (ALVARO, 2008 & ÁLVARO,
2005). O nível da neurose coletiva, da desagregação social e a
destruição do equilíbrio natural, são realidades que comprovam essa
verdade fundamental.
Ou seja, a passagem para outro estágio evolutivo da humanidade exige
uma nova “psico-antropologia”, necessária para levar a cabo a expansão
do novo modelo produtivo e existencial – comunismo – , baseado numa
força produtiva regenerativa, e não destrutiva, e relações produtivas
entre famílias e indivíduos associados, não apenas “parentes”, e com
outro sentido de vida, não somente sobreviver ou ser reconhecido por
status, mas sim realizar a totalidade das potencias humanas possíveis
atualmente em harmonia com o meio social e natural. (MARX, 2008).
A filosofia da praxis orienta a “ação oportuna e eficiente” para a
hegemonia do poder executivo municipal – prefeituras –, que é onde
ocorre a vida comunitária, e posteriormente a expansão para o nível
nacional e internacional.
*Weslley R. Palombarini é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP).
Referências
BAR-YOSEF, Ofer. The Natufian culture in the Levant, threshold to the origins of agriculture. Evolutionary Anthropology, v. 6, n. 5, p. 159–177, 1998.
BOURDIEU, Pierre, Escritos de Educação. Ed. Vozes, Petrópolis, 2011.
DOWBOR, Ladislau. A era do capital improdutivo. São Paulo: Autonomia Literária, 2017;
ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Civilização Brasileira, 1981.
FINKELSTEIN, Israel; SILBERMANN, Neil A. (2018). A Bíblia desenterrada. Petrópolis: Vozes.
FEDERICI, S. (2004). O Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. SP: Elefante, 2017.
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política”. vol. I, T 2, São Paulo: Coleção os Economistas, Abril Cultural, 1984.
______, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2008.
NEVES, Walter; RAPCHAN, Eliane S.; BLUMRICH, Lukas. A origem do significado. Editora Cultura Didática, 2020
NEVES, Walter Alves; JUNIOR, M.J.R; Sergio, R. (Orgs.). Assim Caminhou a Humanidade, São Paulo: Palas Athena, 2015
PINTO, Álvaro Vieira O Conceito de tecnologia. Rio de janeiro. Contraponto, 2005.
PINTO, Álvaro Vieira. A Sociologia dos Países Subdesenvolvidos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008.
PONCE, Anibal. “Educação e luta de classes”. Educação e Filosofia, Uberlândia, v. 5, n. 9, p. 165–167, 2008.
RAIMONDI, Fabio. “Marx, Darwin e a “História crítica da tecnologia”. Diaphonía, http://eprints.sifp.it/356/1/MARX_e_DARWIN. v. 5, n. 1, 2019
REDE, Marcelo. Da Sociedade-Templo à Cidade-Reino na antiga Mesopotâmia. São Paulo: Edusp, 2011.
REDE, Marcelo. Terra e poder na antiga Mesopotâmia. Phoînix, Rio de Janeiro, 2:109-134, 1996.
RIBEIRO, Darcy. O processo civilizatório: Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1987.
LEVY-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis: Vozes. 1976.
WHITE T.D., Asfaw B., DeGusta D., Gilbert H., Richards G.D., Suwa G. et al. “Pleistocene Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia”. Nature, 423:742-7, 2003.
Notas
[i] Antes do Presente (a.p)
[ii]
Um dos grandes méritos de Marx e Engels foi a descoberta de que a
liberdade subjetiva depende da liberdade objetiva, isto é, da
organização do trabalho coletivo, de modo que a ação livre de todo
humano humanizado deve incluir necessariamente a manutenção das
condições objetivas responsável pela formação da natureza psicossocial
da nossa espécie.
[iii]
A relação da espécie humana com a natureza e com o gênero é
extremamente importante para definir a estrutura psico-antropológica de
cada povo. É muito diferente o tipo de humano que emerge de relações
patriarcais entre pastores no deserto da África, por exemplo, onde a
alimentação é escassa e a sobrevivência é hostil, daquele indígena
caçador/coletor/agricultor que se formou segundo a linhagem materna na
região do Amazonas, onde a alimentação é abundante e a sobrevivência é
relativamente confortável, uma vez que a comunidade se torna uma
mediadora segura entre os humanos e a natureza selvagem.
[iv]
Poderíamos dizer que o que marca a nossa “natureza biopsicossocial” não
é apenas a passagem da natureza para a cultura – momento em que as
espécies hominídeas começam a desenvolver processos pedagógicos mais
complexos para produzirem suas ferramentas e o domínio do fogo – , mas
principalmente a ampliação de relações de trabalho associado, assim como
a diversificação de afetos em graus diferentes de parentesco, o que
modifica a estrutura psicossocial dos membros a partir da posição social
de cada um na tribo ao longo do tempo – pais, mães, filhos, sobrinhos,
netos, etc. A proibição do incesto é apenas a consequência necessária do
trabalho associado e do modo de vida comunitário entre parentes.
(LEVI-STRAUSS, 1976).
[v]
É importante salientar que a entrada dos povos em ciclos históricos
imperialistas, isto é, com alto grau de dominação, exploração e trabalho
alienado, ocorreu em contextos históricos diferentes e de modo
relativamente específico, a depender do tipo de evolução material,
regional e cultural. Além disso, o processo de expansão imperial é
diferente quando parte do desenvolvimento interno das forças produtivas e
das relações de produção, ou externo, mediante guerras de conquista.
(ENGELS, 1981). (DARCY, 1987).
[vi]
Temos como exemplo a própria bíblia judaica – pentateuco –, escrita
durante o domínio do império neo-assirio sobre Israel, em 2.700 a.p., e
concluída ao longo dos próximos 600 anos, até 2100 a.p. (FINKELSTEIN
& SIBERMAN, 2018).
[vii]
A queda do Império romano foi um processo revolucionário que
desencadeou em novo modo produtivo, baseado em relações de produção mais
livres entre famílias. A apesar do senhor feudal estabelecer domínio
sobre as famílias aldeãs, o modelo organizacional permitiu a retomada da
vida comunitária, destruída novamente com a revolução capitalista.
(FEDERICI, 2017).