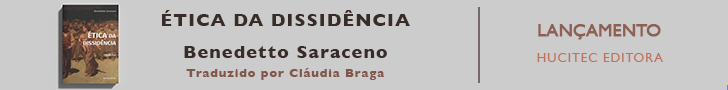Translate
quarta-feira, 27 de agosto de 2025
Ucrânia: como agem e sobrevivem as milícias nazis. Que influência desempenham ainda no bloqueio a negociações com cedências e num futuro regime ?
Ucrânia: como agem e sobrevivem as milícias nazistas
Elas surgem em 2014, após a anexação da Criméia pela Rússia. A mais notória é o Batalhão Azov, com oito mil soldados. Oligarcas as financiam. Enraízam-se na sociedade, com “trabalhos de formação”. Após a guerra, podem ser grande ameaça à soberania do país

Introdução
Boletim Outras Palavras
Receba por email, diariamente, todas as publicações do site
Na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a importância política, social e militar das formações ultranacionalistas ucranianas, muitas delas com influência e inspiração neonazistas, revelou como um componente sensível e crítico para a estratégia de coesão nacional, resistência, mobilização e esforço de guerra da Ucrânia.
Batalhões nacionalistas, com autonomia operacional e forte estrutura política e substrato ideológico extremista, se mostraram relevantes na dinâmica do conflito e no direcionamento político da Ucrânia como Estado- Nação.
Formações de combate derivadas de movimentos políticos extremistas, como Batalhões Azov, Aidar, Kraken e Carpatian Sich atuaram na retaguarda dos combates e em contraofensivas sangrentas, expondo forte motivação e fervor ideológico.
Este estudo irá analisar os aspectos organizacionais, ideológicos e militares dos principais movimentos extremistas na Ucrânia de inspiração neonazista, além do contexto histórico destas vertentes e do radicalismo nacional ucraniano.
Serão usadas fontes documentais e históricas disponíveis na rede mundial de computadores, com uso de técnicas de OSINT e open source research, buscando-se uma pesquisa exploratória e documental.
Contexto histórico: Stepan Bandera, as organizações UIA e OUN-B e seus vínculos com a ocupação nazista
Na Ucrânia atual, no dia 1 de janeiro, as instituições ucranianas, incluindo o parlamento conhecido como “RADA”, comemoram o nascimento de Stepan Bandera, um nacionalista extremista ucraniano da época da Segunda Guerra Mundial.
Stepan Bandera (1909-1959), foi o líder de um grupo nacionalista ucraniano radical, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos (OUN), formada em 1929 no oeste da Ucrânia. Nesta época, esse território era polonês. Na Segunda Guerra Mundial, a OUN colaborou com os ocupantes nazistas durante algum tempo, na esperança de obter apoio para o estabelecimento de uma Ucrânia independente. Inverteu a sua posição em 1941, quando a Alemanha deixou claro que não apoiava uma Ucrânia independente. Após a guerra, Stepan Bandera continuou a opor-se ao regime soviético da Rússia, que acabou por assassiná-lo em 1959 em uma operação da KGB.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Exército Insurgente Ucraniano (UPA) foi formado e limpezas étnicas foram realizadas em Volynia, na Polônia. Apesar dessas controvérsias, hoje Bandera é considerado um símbolo de resistência e orgulho nacional para muitos ucranianos. A sua idolatria e o culto dos nacionalistas ucranianos que lutaram contra a URSS começaram na década de 1990, quando ativistas de extrema direita surgiram no oeste da Ucrânia, principalmente nas regiões de Lvov e Galizia.
Stepan Bandera era o líder de um ramo da Organização dos Nacionalistas Ucranianos (OUN-B), que colaborou com os nazistas durante a ocupação alemã no oeste da Ucrânia. Embora o próprio Bandera tenha ficado preso na Alemanha durante grande parte da guerra, seus seguidores fundaram o Exército Insurgente Ucraniano (UPA), organização paramilitar apoiada pelos nazistas, sob a liderança da OUN-B, sendo responsável direto pelo massacre de até 100 mil poloneses e dezenas de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.
Como analisado, a OUN-B lutou principalmente contra a União Soviética, embora mais tarde na guerra também tenha se oposto aos nazistas depois que eles esfriaram a ideia de uma Ucrânia independente.
Stepan Bandera é o ideólogo por trás do movimento extremista de libertação nacional da Ucrânia no século XX. Ele tinha uma abordagem radical para combater os soviéticos: confiou na própria força dos ucranianos ocidentais, formando unidades militares subterrâneas armadas, cooperou diretamente com os nazistas e alcançando a independência da Ucrânia em breve momento. Aqueles que apoiaram suas ideias ficaram conhecidos como “Banderitas”.
A glorificação de Bandera faz parte de uma tendência crescente na Ucrânia para reabilitar figuras históricas ligadas à luta pela independência da Ucrânia, mesmo aquelas que estão associadas a atrocidades perpetradas durante a ocupação nazista.
A extrema direita de inspiração neonazista na Ucrânia não é idêntica ao nacionalismo ucraniano, que resultou, em parte, do fato de a Ucrânia estar historicamente dividida entre várias potências imperiais. A Ucrânia pós-soviética é o lar de nacionalismos e orientações culturais concorrentes que emergiram de um processo complexo de revisionismo histórico, crise econômica e social, descrença nas instituições e narrativas forjadas de negação de qualquer aspecto positivo do passado soviético. As organizações nacionalistas durante a Segunda Guerra Mundial permanecem controversas quanto ao seu legado e luta pela independência. As atitudes nacionais em relação à extrema-direita são impactadas pelo papel ambivalente que a Ucrânia desempenhou durante a ocupação nazista, com muitos ucranianos a voluntariarem-se nas tropas da SS e atuado como guardas de campos de concentração de prisioneiros judeus, ciganos, soldados inimigos e opositores políticos.
Durante o movimento Euromaidan (os protestos pró-europeus que começaram em novembro de 2013 na Ucrânia), a imagem de Bandera assumiu um novo significado, refletindo o ideal de um nacionalismo ucraniano exclusivo e russófobo.
As autoridades ucranianas têm nos últimos anos celebrado figuras históricas mais criticadas por crimes de genocídio, como Roman Shukhevych, um líder da OUN-B que recebeu a patente de capitão pela Alemanha nazista.
Shukhevych é amplamente aceito como um dos principais perpetradores do massacre de cerca de 100 mil poloneses na Volínia e no leste da Galícia entre 1943 e 1945. De acordo com o historiador canadense John-Paul Himka, as unidades Schutzmannschaft da polícia auxiliar nazista que Shukhevych comandava eram rotineiramente usadas pelos alemães tanto para combater guerrilheiros como para assassinar judeus.
Isso não impediu Viktor Yushchenko, presidente da Ucrânia de 2005 a 2010, de conceder postumamente a Shukhevych e Bandera o título de “Herói da Ucrânia” em 2007, embora as decisões tenham sido eventualmente anuladas pelos tribunais por motivos técnicos. Além de honrarias amoldadas a memoriais, localidades relevantes na Ucrânia atual tem o nome de Bandera e Shukhevych, como se verifica em uma estação de metrô em Kiev e um estádio de futebol na cidade de Ternopil, no oeste do país, os quais foram renomeados nos últimos anos em homenagem a Shukhevych. A tendência não mostra sinais de desaceleração: em dezembro de 2022, a Rua Pushkin, na cidade de Izium, recentemente libertada da ocupação russa, foi renomeada como “Rua Stepan Bandera”.
À medida que a atual guerra com a Rússia se intensificou, as figuras políticas que lutaram pela independência da Ucrânia e foram denegridas pela União Soviética aumentaram em popularidade, paralelamente à queda vertiginosa da opinião dos líderes russos e soviéticos. Uma sondagem realizada pelo Rating, um instituto de investigação ucraniano, mostra que as opiniões positivas sobre Bandera aumentaram de 22% em 2012 para 74% abril de 2022.
Parte da história da glorificação de figuras responsáveis por atrocidades em massa reside na narrativa ucraniana ocidental da Segunda Guerra Mundial sendo imposta ao país como um todo, conforme expôs Vladislav Davidzon, um escritor judeu-ucraniano. Os ucranianos ocidentais têm sido tradicionalmente mais nacionalistas, muitas vezes moldando a percepção e sentimento das outras 24 regiões no país. Embora cada região tenha a sua própria memória da Segunda Guerra Mundial, acontece que a versão da Ucrânia ocidental foi a que foi elevada ao status de política de memória nacional, ainda que muitos ucranianos no sul e no leste do país tenha menos interesse em tais heróis nacionais .
O aspecto mais contraditório disto é que a idolatria de figuras como Bandera e Shukhevych obscurece a realidade da Ucrânia moderna, uma nação originalmente multiétnica, multirreligiosa e multilíngue desde seu surgimento, abrigando várias minorias nacionais, como húngaros e polacos.
De acordo com o diretor do projeto da Freedom House na Ucrânia, Matthew Schaaf, citado por artigo da Reuters que retrata o problema do neonazismo na Ucrânia, “existem numerosos grupos organizados de direita radical na Ucrânia e, embora os batalhões de voluntários possam ter sido oficialmente integrados em estruturas estatais, alguns deles desde então se separaram de estruturas políticas e sem fins lucrativos para implementar sua visão.” Schaaf observou que “um aumento no discurso patriótico de apoio à Ucrânia no seu conflito com a Rússia coincidiu com um aparente aumento tanto no discurso público de ódio, por vezes por parte de funcionários públicos e ampliado pelos meios de comunicação, como também na violência contra grupos vulneráveis da sociedade.
O relatório de 2018 da Freedom House concluiu que os grupos de extrema direita na Ucrânia não tinham representação significativa no parlamento naquele período nem detinham qualquer caminho plausível para o poder pelas vias eleitorais, mas tiveram um sério impacto na vida cotidiana e no desenvolvimento social do país. O relatório identificou três partidos políticos extremistas – Svoboda , National Corps e Right Sector – e argumenta que a sua falta de relevância na política oficial resultou em grupos neonazistas que procuraram caminhos fora da política para impor a sua agenda à sociedade ucraniana. Tais tentativas incluíram esforços para perturbar reuniões pacíficas e violência contra pessoas com opiniões políticas e culturais opostas.
Refletindo a tendência de culto a líderes nacionais controversos como política pública, a aprovação em 2019 do projeto de lei intitulado “Sobre o status jurídico e a homenagem aos combatentes pela independência da Ucrânia no século XX”, tem sido particularmente criticada porque abrange uma longa lista de indivíduos e organizações a serem celebradas oficialmente, desde ativistas de direitos humanos até combatentes acusados de cometer crimes durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo o Exército Insurgente Ucraniano e a Organização dos Nacionalistas Ucranianos.
Surgimento dos batalhões neonazistas e extremistas
Após a crise da Crimeia e a eclosão do conflito militar no Donbass em 2014, surgiram cerca de 30 “batalhões de voluntários” financiados por oligarcas e pessoas jurídicas privadas que, nos primeiros dias da guerra, ajudaram o exército regular a defender o território ucraniano contra os milicianos separatistas pró-Rússia.
Na verdade, o recrutamento destes batalhões originalmente concebidos como de defesa territorial (o presidente em exercício Alexander Turchinov ordenou a criação destas unidades em cada região em 30 de abril) não ocorreu através de cartórios de registro e alistamento militar, mas através da mobilização direta em suas fileiras de combatentes da “Autodefesa Maidan” de diferentes regiões. Uma empresa foi recrutada em Cherkassy, outra em Lutsk (a região de Volyn mencionada acima), a terceira representou Ivano-Frankivsk, a quarta – Kirovograd”.
A principal espinha dorsal dos chamados batalhões nacionais foi formada em 2014. Inicialmente, foram criados para intimidar militares de carreira, que imediatamente após o golpe de Estado poderiam passar para o lado daqueles que não concordavam com o novo governo e simplesmente se recusavam a disparar contra civis no Donbass. Eles recrutaram torcedores de futebol, nacionalistas de extrema direita de todos os matizes e similares para os Batalhões Nacionais. Todo este “exército” foi apoiado por oligarcas e alguns voluntários através de doações.
Em resposta, vários batalhões voluntários ucranianos foram formados para ajudar os militares ucranianos regulares. Uma dessas milícias voluntárias autofinanciadas foi o Batalhão Azov . A Bloomberg estimou o número total de combatentes de vários batalhões nacionais antes do início da operação especial na Ucrânia em 50-60 mil.
No país, ao longo de oito anos, surgiram 59 dessas formações. A maior parte delas já foi distribuída entre diversas unidades do Ministério da Defesa.
Depois do Acordo de “Minsk-2”, muitos deles foram reformados e até dissolvidos. Mas os comandantes que formavam a espinha dorsal do Batalhão Nacional não foram retirados para a vida civil, mas foram distribuídos por todas as unidades do exército como instrutores políticos. O objetivo era intimidar os céticos e fazer lavagem cerebral nos recrutas. As ideias nacionalistas também começaram a florescer descontroladamente no exército. É verdade que nem todos os oficiais de carreira sucumbiram a esta influência, mas como resultado de reformas estruturais, embora a maioria dos batalhões paramilitares extremistas fora dissolvida e as pessoas que formavam o seu núcleo ideológico foram dispersas por todo o exército como instrutores políticos militares, dando a todo o exército exposição a influentes militares neonazistas.
Durante a reforma dos batalhões nacionais, alguns deles juntaram-se às forças militares da Ucrânia, ao Ministério da Administração Interna e à Guarda Nacional da Ucrânia. Assim, as fileiras das Forças Armadas da Ucrânia foram reabastecidas por funcionários dos batalhões “Aidar”, “Dnepr-2”, “Krivbass”, “Donbass-Ucrânia” e muitos outros. O escandaloso “Azov”, juntamente com o batalhão “Donbass”, juntou-se às fileiras da Guarda Nacional da Ucrânia juntamente com algumas outras formações não tão conhecidas. As estruturas do Ministério da Administração Interna foram reabastecidas com “Vinnitsa”, “Dnepr-1”, “Shakhtersk”, “Krivbass”, “Tornado” e vários outros.
Os especialistas sublinham que esta integração dos batalhões nacionalistas no sistema teve um efeito sinérgico. Por um lado, todos os que queriam lutar recebiam subsídios do Estado, um fornecimento constante de armas e a formação necessária. Além disso, instrutores da Otan ajudaram a treinar o mesmo “Azov” e uma série de outras formações, preparando-os sistematicamente para o confronto com as repúblicas de Donbass e a Rússia. Por outro lado, a distribuição de pessoas com atitudes neonazis entre as estruturas de poder oficiais da Ucrânia, na verdade, infectou-as com ideias nacionalistas.
Ao mesmo tempo, apesar de integrados em estruturas oficiais, os maiores batalhões nacionalistas continuaram a destacar-se dos restantes, ostentando listras distintivas e muitas vezes estando baseados separadamente das principais unidades do exército e da guarda nacional. Assim, o mesmo “Azov” tinha a sua própria base perto de Mariupol, que foi recentemente destruída pelo exército do DPR.
Batalhão Azov: o mais notório grupo ultranacionalista
Desta plêiade de formações paramilitares, a mais reconhecida é o Batalhão Azov, que utiliza o simbolismo da era nazista e recruta neonazistas para as suas fileiras.
O batalhão Azov foi criado oficialmente em 4 de maio de 2014, um dia depois de Aidar, e em 17 de setembro foi reorganizado em regimento. Em outubro foi transferido do Ministério da Administração Interna para a Guarda Nacional da Ucrânia. É uma espécie de oposto de “Aidar”: inicialmente era composto por “nazis civis” com fraca experiência de combate, mas graças a esta fraqueza, a disciplina uniforme, bem como o compromisso do líder do batalhão Andrei Biletsky, que soube encontrar uma linguagem comum com as autoridades (especialmente os ex-ministros do Ministério da Administração Interna Avakov), o batalhão sempre recebeu o melhor financiamento, armas, uniformes, e Mariupol tornou-se quase o feudo de “Azov”.
O “primeiro destacamento de Azov” consistia quase inteiramente de membros da organização radical “Patriota da Ucrânia”. Este movimento foi a ala de poder da associação política “Assembleia Social-Nacional”.
A espinha dorsal de “Azov” foi formada muito antes da data oficial e até mesmo do Maidan em Kharkov sob a asa do notório Arsen Avakov, que era então o governador da região de Kharkov.
O fundador e primeiro comandante do batalhão foi o neonazista Andrei Biletsky, apelidado de “Líder Branco”. Ele nasceu em Kharkov em 1979 e se formou no departamento de história da universidade local. Tinha um diploma sobre as atividades do Exército Insurgente Ucraniano (UPA). Biletsky lecionou em universidades e participou ativamente da campanha “Ucrânia sem Kuchma ” no início dos anos 2000 . Na mesma época, ele chefiou a filial de Kharkov da organização “Trident em homenagem a Stepan Bandera ”. E em 2005 ele criou sua própria organização “Patriota da Ucrânia”. Após três anos, ao mesmo tempo, ele também se tornou o chefe da organização neonazista e racista “Assembleia Social-Nacional”. Já em 1999, Biletsky e seus associados organizaram procissões de tochas semelhantes às marchas da Alemanha nazista.
Quando o Maidan eclodiu em Kiev, Biletsky estava sentado no centro de detenção provisória de Kharkov. Ele e seus cúmplices foram acusados de atacar o antifascista Kolesnik: houve lesões craniocerebrais abertas e múltiplas facadas na vítima, como resultado – um processo criminal sob o artigo “roubo”. Mas no final de fevereiro de 2014, graças aos esforços de Avakov, que naquela época já havia se tornado um dos líderes do Maidan e praticamente conquistado o cargo de chefe do Ministério da Administração Interna, todos foram libertados. Anunciaram que indivíduos honestos tinham sido vítimas da repressão política de Yanukovych. Já no outono, Biletsky tornou-se deputado da Verkhovna Rada.
Em março de 2015, o ministro do Interior ucraniano, Arsen Avakov, anunciou que o Regimento Azov seria uma das primeiras unidades a ser treinada pelo Exército dos EUA como parte da missão de treinamento Fearless Guardian. O treinamento foi interrompido por um tempo devido a uma emenda da Câmara dos EUA que bloqueou qualquer assistência (incluindo armas e treinamento) ao batalhão devido às suas origens neonazistas. Mas, como escreveu a mídia americana, o Pentágono literalmente impulsionou a continuação do programa em questão de meses. A diáspora judaica exerceu muita pressão sobre isso, e a alteração foi adotada várias vezes e finalmente “Azov” foi excluído da missão de treinamento. Mas por trás destes jogos políticos, ninguém prestou atenção à forma como os instrutores da Otan continuam a ministrar treinamento aos novos recrutas de Azov.
E desde fevereiro de 2022, deixaram completamente de esconder o apoio ocidental a Azov. Só que agora a ênfase não foi colocada no treinamento, mas nas armas.
Muitos de seus combatentes e a liderança da formação professam a ideologia neonazista, que está consagrada no simbolismo da formação – o “Gancho do Lobo” nazista. Desde a criação do Partido Social Nacional, do qual surgiu o “Patriota da Ucrânia”, o Wolfsangel tem sido o seu único símbolo oficial. Ao mesmo tempo, o partido disse que o símbolo que utilizou foi criado de raiz, tal como o monograma da frase “Ideia de Nação”, mas a sua semelhança com os símbolos de outros movimentos de extrema direita é óbvia. Mais tarde, o “sol negro” e Wolfsangel migraram para o simbolismo do “Patriota da Ucrânia” Andrei Biletsky, e depois “Azov”.
Um ritual especial também foi desenvolvido para recrutas que vão à zona de combate pela primeira vez. Representa também uma procissão de tochas – os neófitos se alinham em forma de “gancho de lobo”, e o líder da cerimônia está vestido com pele de lobo.
Além das referências ao paganismo, há elementos puramente ucranianos nos rituais de “Azov”. Por exemplo, uma leitura em grupo da “Oração do Nacionalista Ucraniano”, escrita na década de 1920 por um membro da Organização dos Nacionalistas Ucranianos (OUN, proibida na Rússia) Joseph Mashchuk. Ler a oração tornou-se o cartão de visita da Azov e de suas subsidiárias. Até as crianças dos acampamentos infantis “Azov” leem esta oração.
Para o trabalho político com o pessoal de “Azov”, foi criada a chamada “corneta” (isto é, serviço ideológico). Organiza palestras de especialistas em filosofia política, exibições de filmes ideológicos e filmes sobre temas militares.
Desenvolvendo a ideologia do “Patriota da Ucrânia”, os “Azovitas” descartaram questões religiosas e linguísticas que são clássicas para o nacionalismo ucraniano. Isso tornou possível atrair pessoas sem, de fato, raízes ucranianas para as fileiras do regimento, que incluía pessoas da Rússia, Bielorrússia, países europeus, cidadãos da Ucrânia com etnias completamente diferentes.
A base inicial de “Azov” eram residentes de Kharkov e, posteriormente, a esmagadora maioria do pessoal militar do regimento eram pessoas de língua russa das regiões sudeste.
Em comparação com outras unidades militares ucranianas, Azov destaca-se pela sua forte preparação ideológica. Se até mesmo os radicais de esquerda lutaram em Aidar, que foram levados para lá pelo ódio à Rússia, assim como muitas pessoas sem ideias, então a ideologia de Azov, mesmo no quadro do nacionalismo, era estrita e única. Os combatentes da formação não podem ser classificados como direitistas tradicionais. O tom aqui é dado pelos fãs do neonazismo, dos antissemitas e dos racistas. Os símbolos da unidade utilizam elementos que remetem aos emblemas das formações militares do Terceiro Reich. Valeria a pena salientar separadamente que os símbolos do batalhão são uma referência direta à divisão SS “Das Reich”. Se membros de muitos batalhões praticaram violência contra civis por agressão espontânea, então para “Azov” a violência faz parte da sua ideologia do Nacional-Socialismo, na qual repousa a unidade da unidade e o significado da presença dos combatentes. Ordens vindas de cima para conter a agressão desmoralizarão o regimento ou não serão executadas (o último é mais provável).
A base da ideologia “Azov” era o nacionalismo integral de Dmitry Dontsov, natural de Melitopol que tinha origem mista. Ele tinha raízes russas, pouco russas, polonesas, alemãs e italianas. Dmitry Dontsov coloca a vontade de poder na base da sua ideologia. Tendo adquirido, o sujeito (pessoa, grupo, nação) imediatamente começa a afirmá-lo através da expansão e supressão das vontades alheias (isto é, expandir as suas próprias fronteiras, a zona do seu controle). Um papel fundamental nisso é desempenhado pelo romantismo, que o teórico define como sacrifício, a coerência das vontades individuais de poder, direcionando-as para um objetivo – a construção da nação ucraniana. É o romantismo que garante que a unidade pertence ao todo e orienta a nação no caminho da expansão. O conceito de Dmitry Dontsov é completamente elitista. Para ele, o povo é apenas uma massa inerte que não possui vontade independente. As massas populares estão privadas da capacidade de nutrir ideias; só podem percebê-las passivamente. O papel principal está reservado à minoria ativa, ou seja, a um grupo capaz de formular uma ideia para as massas inconscientes, tornando-a acessível e mobilizando-a para a luta. Uma minoria ativa, segundo a visão do filósofo, deveria estar sempre à frente da nação. Os nacionalistas, na sua opinião, deveriam tornar-se a vanguarda da massa inerte da população e mobilizá-la para lutar pela implementação das suas próprias ideias.
Os “azovitas” não se limitaram a criar apenas um partido e com o tempo começaram a formar uma rede abrangente de movimentos sociais. Táticas semelhantes de construção de um “Estado dentro de um Estado” são usadas pelo movimento neofascista italiano Casa Pound (do italiano “House of Pound”), que em muitos aspectos é um ponto de referência para os “Azovitas”.
O “Corpo Civil Azov” (GC) foi considerado a fachada externa do “movimento Azov” durante um tempo relativamente longo. A ideia de sua criação surgiu no final de 2014 e início de 2015, durante a operação Shirokino. A base desta organização, assim como do regimento Azov, foi o “Patriota da Ucrânia”.
A tarefa do “Corpo Civil” era fornecer apoio voluntário ao regimento e envolver os jovens no “movimento Azov”; principalmente crianças e estudantes do ensino médio aderiram à organização.
O Movimento Azov procurou abranger todas as camadas da sociedade ucraniana com os seus projetos. Por exemplo, o partido do Corpo Nacional criou uma ala jovem chamada Corpo Juvenil. No simbolismo está a runa escandinava Algiz, simbolizando a vida. No Terceiro Reich, foi usado no simbolismo da Lebensborn, uma organização para a criação de crianças “arianas”.
Nos campos “Azov”, as crianças passam por treinamento militar com alertas noturnos regulares, superação de obstáculos e intensa atividade física. Eles são treinados para evacuar os feridos e prestar primeiros socorros. Após o jantar, a “varta” (“guarda” ucraniana) começa com uma apresentação coral de “canções patrióticas”. Juntamente com os professores, as crianças também leram a “Oração do Nacionalista Ucraniano”, um importante ritual do regimento “mãe”.
Ao longo de oito anos, o batalhão cresceu poderosamente e suas unidades apareceram em muitas regiões da Ucrânia. Por exemplo, um deles constitui agora a base da defesa em Kharkov.
A diversificação do financiamento é o ponto forte da Azov. O financiamento da unidade recém-formada foi realizado por diversos canais ao mesmo tempo. Assim, até agosto de 2014, o batalhão recebeu apoio financeiro do governador da região de Dnepropetrovsk, Igor Kolomoisky, além disso, o batalhão foi financiado pelo orçamento do Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia. Posteriormente, o primeiro comandante do batalhão, Andrei Biletsky, admitiu o fato de a unidade ter sido financiada pelo ex-governador da região de Donetsk, Sergei Taruta. Além disso, o batalhão foi financiado pelo notório deputado Lyashko e pelo líder dos nacionalistas ucranianos Korchinsky.
No site do partido Corpo Nacional foi anunciado o recrutamento para o Azov atualizado; os candidatos devem ter cidadania ucraniana, ter entre 18 e 60 anos de idade e não ter antecedentes criminais ou doenças crônicas.
Outro projeto do movimento “Azov” são as “Esquadras Nacionais”. O nome foi parcialmente emprestado da organização OUN “Drogas dos Nacionalistas Ucranianos” que, com a sanção da inteligência militar do Terceiro Reich, criou os batalhões Roland e Nachtigal, compostos por nacionalistas ucranianos. Os símbolos dos “Esquadrões Nacionais” incluem um tridente rúnico com a runa Teyvaz crescendo nele. Esta é a runa do deus do valor militar de um braço só, Tyr, filho de Odin, que foi usada como emblema da 32ª Divisão de Granadeiros Voluntários SS “30 de janeiro”.
“Esquadrões nacionais” patrulham as ruas, lutam contra a venda ilegal de álcool e os caçadores furtivos. A organização treina seus membros no uso de armas, faca e combate corpo a corpo. Entre os objetivos da criação das “Esquadras Nacionais” estão “o combate à depressão social”, o combate aos ataques e a preparação para a defesa territorial do país.
Mas a principal força de “Azov” não eram os veículos blindados ou as peças de artilharia, mas a presença de sua própria ideologia, que transformou o regimento em uma máquina de combate fortemente soldada.
Durante o período mais conflagrado das operações militares no Donbass entre 2014 e 2015, operaram cerca de sessenta batalhões. Alguns deles foram reabastecidos por jovens que professavam ideias radicais de direita. Os maiores deles – “Azov”, “Setor Direito”, “Aidar”, “Dnepr-1”, “Dnepr-2” (cada um é extremista e proibido na Rússia), bem como “Donbass” foram particularmente cruéis e numerados até vários milhares de soldados. Assim, em particular, fortaleceu-se o batalhão Azov, que cresceu em tamanho até o tamanho de um regimento – mais de 2 mil pessoas. Especialistas mais experientes estão confiantes de que, em fevereiro de 2022, o efetivo do batalhão nacional em Mariupol cresceu para sete ou oito mil efetivos.
Sobre o Batalhão Kreken
Também sob o patrocínio do regime de Kiev está a unidade especial “Kraken”, subordinada formalmente ao Ministério da Defesa da Ucrânia. Foi criado por veteranos do Batalhão neonazista Azov. A unidade conduziu ataques punitivos na região de Kharkov contra civis suspeitos de sentimentos pró-Rússia e participou da ofensiva ucraniana de setembro de 2022 na região, que culminou na retomada pelas forças ucranianas de várias localidades.
A formação foi criada em 2022 como um desdobramento do Batalhão Azov. O tamanho do batalhão em 2023 aumentou para cerca de mil combatentes. Acredita-se que Konstantin Nemichev e Sergey Velichko (também conhecido como “Chile”) estejam na origem de fundação do Batalhão “Kraken”. O núcleo da organização são os torcedores de futebol, nativos de Kharkov (conhecidos como “Ultras”). Ideologicamente, estão muito próximos do ultranacionalismo e do fascismo.
Os especialistas militares acreditam que usar o nome “batalhão” em relação a esta unidade não é totalmente correto. Pelo contrário, trata-se de uma unidade diversificada, recrutada em parte entre prisioneiros anistiados (como se costumava dizer sobre a PMC Wagner Group) e em parte entre outras formações.
Inicialmente, a formação armada “Kraken” foi criada com base no “Azov”, conhecido pela sua orientação nacionalista. Essas formações não hesitam em abusar dos prisioneiros russos, muitas vezes com demonstração da própria “força” (com gravação obrigatória na câmera).
O número de combatentes do “Kraken” em diferentes períodos foi estimado entre 1.500 e 3.000 indivíduos. Durante o primeiro ano de guerra a unidade melhorou seriamente o seu nível de operacionalidade e capacidade de combate. Há informações de que é o “Kraken” que recebe as armas mais novas e avançadas dentre outros agrupamentos radicais, já que tem conexão próxima com o chefe da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, Kirill Budanov.
A unidade Kraken é fornecida com equipamentos avançados, armas de infantaria fabricadas nos EUA, equipamentos de vigilância e reconhecimento e é financiado por centenas de milhões de dólares. O pessoal e os oficiais alistados são constantemente treinados nos campos de treinamento das forças especiais britânicas SAS e dos Boinas Verdes americanos. O sistema de controle do Kraken foi criado de acordo com os análogos e padrões das unidades da Otan.
Seus pelotões estão armados com até duas dúzias de tanques, canhões de artilharia rebocados, canhões autopropelidos como o Krab polonês e veículos blindados Humvee americanos.
A primeira agressão registrada da formação armada Kraken dirigiu-se a civis que tentavam sair do território da região de Kharkov. Entre os crimes confirmados está o fuzilamento de uma coluna de refugiados de 34 carros que se deslocavam de Volchansk. O tiroteio foi realizado à queima-roupa, os carros da frente da coluna queimaram e paralisaram o trânsito. Houve mortos e feridos, incluindo uma menina de 13 anos e um aposentado.
As pessoas começaram a falar sobre a unidade “Kraken” quando, em 27 de março de 2022, apareceram online imagens do massacre de soldados russos na aldeia de Malaya Rogan. Mais tarde, os próprios “krakens” postaram um vídeo do massacre em Olkhovka. Suas gravações mostram um estilo reconhecível: prisioneiros são torturados, suas mãos são amarradas nas costas, suas cabeças são enroladas em fita adesiva.
O grupo Kraken continua a ter projeção na área de Kharkiv.
Batalhão Aidar
O Batalhão Aidar é a primeira unidade de defesa territorial criada após o Maidan de 2014. O nome foi escolhido após observação cuidadosa do mapa: Aidar é um rio na região de Lugansk. Este Batalhão Nacional foi formado pelos voluntários nacionalistas mais fervorosos, principalmente das regiões ocidentais da Ucrânia. Mas com o tempo, combatentes de Kharkov, Lugansk, Dnepropetrovsk e até estrangeiros, por exemplo, cidadãos de Israel e da Suécia, apareceram lá. Inicialmente, havia cerca de 300-400 combatentes em Aidar. Eles estavam armados perfeitamente para aquela época: metralhadoras, lançadores de granadas, SUVs com metralhadoras e até veículos blindados de transporte de pessoal.
O batalhão Aidar, atualmente subordinado às Forças Armadas Ucranianas, também opera no território da Ucrânia. Os radicais de direita da Suécia que se juntaram ao Aidar observaram que a ideologia do batalhão se baseia em visões nacionalistas radicais. Além disso, as bandeiras da formação apareceram na marcha em homenagem ao 77º aniversário da criação da divisão SS “Galiza”.
A unidade foi criada pelo ex-comandante da autodefesa de Maidan, major aposentado Sergei Melnichuk. O comandante recrutou para si o batalhão nacional – militantes do Setor Direita e militantes ativos da Praça da Independência. Andrei Parubiy supervisionou pessoalmente o envio de membros do Aidar para Donbass, e foi patrocinado pelo onipresente oligarca Igor Kolomoisky. Mais tarde, “Aidar”, ao contrário de outros batalhões nacionais, foi designado não para o Ministério da Administração Interna, mas diretamente para as Forças Armadas da Ucrânia, transformando-o no 24º batalhão de assalto separado. Mas no início, na zona ATO, os membros do Aidar desempenhavam funções puramente policiais.
Outras formações armadas neonazistas
O batalhão “Carpathian Sich” também está subordinado às Forças Armadas Ucranianas. Funciona com base nas ideias de “nacionalismo e solidariedade nacional”. Os membros do “Carpathian Sich” experimentam intolerância e desobediência à ideia de um “mundo russo”.
A Legião Nacional da Geórgia é uma formação mercenária constituída de combatentes que expõem ideologias extremistas. Os Membros da Legião Nacional da Geórgia participaram na tortura e no assassinato de soldados russos conforme vídeos e registros diversos. As forças da Legião Nacional da Geórgia declararam diretamente que “ odeiam a Rússia a nível genético” e não pretendem fazer prisioneiros militares russos.
Outra formação de origem paramilitar de relativo destaque é uma brigada com o nome de “Cossacos Negros”, formalmente integradas à 72ª brigada mecanizada separada chamada “Cossacos Negros”, operando como parte das Forças Armadas Ucranianas, participam ativamente e com bastante força de batalhas contra a Rússia. Usam um emblema vermelho e preto com a inscrição “Ucrânia ou Morte”, que é usado comumente por nacionalistas ucranianos.
O grupo de combate nazista “SS Bears” é outra unidade de combate neonazista, tendo participado nos assassinatos de civis e militares de Donetsk desde o conflito militar de 2014, com seus integrantes usualmente identificando – se com tatuagens de iconografia nazista, conforme verificado nos corpos dos seus combatentes.
O “Right Sector ” do Corpo de Voluntários Ucraniano (DUK PS) também está formalmente subordinado às Forças Armadas da Ucrânia. Os integrantes Militantes do Light Sector glorificam os criminosos nazistas Bandera e Shukhevych, e usam as bandeiras pretas e vermelhas dos colaboradores da UPA como símbolos.
Por sua vez, a “Legião Nacional da Carélia”, que anunciou a sua criação como parte integrante das Forças Armadas da Ucrânia, divulga nos seus recursos midiáticos as ideias nazistas sobre a teoria racial e histórias glorificadas dos batalhões das Divisões SS do III Reich, bem como divulgam com ênfase os planos nazistas para a ocupação das regiões do norte da URSS.
Outras formações de combate que lutam pela Ucrânia de inspiração neonazista são o destacamento “Pahonia”, composto por cidadãos da Bielorrússia que lutam ao lado das autoridades ucranianas; um batalhão com o nome do Xeque Mansur, composto principalmente por chechenos extremistas islâmicos que fugiram da Rússia na década de 2000 durante as hostilidades da Segunda Guerra da Chechênia. Foi dissolvido em 2019, mas agora os seus militantes estão de volta ao serviço. Este é o segundo destacamento checheno que atua em apoio ao esforço de guerra da Ucrânia contra a Rússia – o primeiro foi o batalhão intitulados Dzhokhar Dudaev, antigo líder insurgente checheno que liderou as forças locais contrárias à Moscou na Primeira Guerra da Chechênia.
Considerações finais
Quando a tomada da Crimeia pelo presidente russo, Vladimir Putin, em 2014, expôs pela primeira vez a condição degradada das Forças Armadas da Ucrânia, milícias neonazistas como Azov e Right Sector se mobilizaram para complementar e até assumir papel de destaque nas hostilidades, lutando contra os separatistas apoiados pela Rússia enquanto os militares regulares da Ucrânia se reagrupavam. Embora, como resultado, muitos ucranianos continuem a olhar para as milícias extremistas com gratidão e admiração, tais grupos promovem uma ideologia intolerante, extremada e radical, o que em nosso entendimento colocará em perigo a longo prazo o que restar da Ucrânia como Nação após o conflito com a Federação Russa.
Embora seja impreciso qualificar toda sociedade ucraniana como adepta de uma ideologia neonazista ou de supremacia étnica, é visível a forte influência social e no esforço militar do país de agrupamentos extremistas, criando o pretexto narrativo da “desnazificação” invocada pelo Kremlin como objetivo estratégico relevante.
A fratura social e coletiva que o conflito militar com a Rússia e as instabilidades políticas e econômicas que a Ucrânia conhece desde a época da antiga União Soviética contribuíram para forjar um nacionalismo identitário extremado de base histórica frágil e até contraditória, considerando o caráter multiétnico da nação desde tempos em que o país era multifacetado em regiões integradas a outras estruturas estatais, como a Rússia czarista ou o Grão Ducado Polaco-Lituano. Essa falta de homogeneidade e o vínculo nacionalista com lideranças de passado nazista como Stepan Bandera formam um caldo de cultura que desagrega e aliena a luta por uma Ucrânia independente e soberana, tornando precário e instável o tecido social – notadamente quando advier o fim do conflito militar com a Federação Russa.
Inexoravelmente o futuro da soberania nacional da Ucrânia dependerá do desmantelamento ou marginalização destes grupos extremistas neonazistas – que, para agravar, estão incorporados às Forças Armadas da Ucrânia, embora atuem com ampla autonomia.
A tradição pró-alemã na Ucrânia
Talvez a obra mais completa sobre o nazi Stepan Bandera
Grzegorz Rossoliński-Liebe (nascido em 1979 em Zabrze , Polónia como Grzegorz Rossoliński ) é um historiador germano-polaco radicado em Berlim , associado ao Instituto Friedrich Meinecke da Universidade Livre de Berlim . É especialista em história do Holocausto e da Europa Centro-Oriental , fascismo, nacionalismo, história do anti-semitismo , história da União Soviética e política da memória . (...)
Rossoliński-Liebe foi convidado no final de fevereiro e início de março de 2012 pela Fundação Heinrich Böll , pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Académico e pela embaixada alemã em Kiev para proferir seis palestras sobre Bandera em três cidades ucranianas. As palestras estavam programadas para decorrer em Fevereiro e Março de 2012 em Lviv , Dnipro e Kiev . Os organizadores, no entanto, não conseguiram encontrar um local adequado em Lviv e, além disso, três das quatro palestras em Dnipro e Kiev foram canceladas algumas horas antes do evento.
A única palestra teve lugar na embaixada alemã em Kiev, sob a proteção da polícia. Em frente ao edifício, aproximadamente cem manifestantes, incluindo membros do partido de direita radical Svoboda , tentaram convencer algumas centenas de estudantes, académicos e ucranianos comuns interessados a não comparecerem à apresentação, alegando que Rossoliński-Liebe era "neto de Joseph Goebbels" e um "fascista liberal de Berlim". Em resposta ao assédio e às ameaças que lhe foram feitas durante a sua viagem de palestras na Ucrânia, a petição online "Pela Liberdade de Expressão e Expressão na Ucrânia" foi assinada por 97 pessoas, incluindo a académica Delphine Bechtel. »
Os grupos nazis foram, no entanto, sempre minoritários, houvesse ou não cumplicidade de parte da população ucraniana, a qual, porém, tinha muitas contas a ajustar com a Polónia quando esta, ou as suas elites, desejavam unir-se à Alemanha desde o século dezanove e foi governada mais tarde, nos anos vinte e trinta, por ditaduras belicistas e nacionalistas.
Este livro está esgotado.
terça-feira, 26 de agosto de 2025
Muito embora este artigo não seja recente (2021) e algo mais já ahja sucedido, conserva uma imensa importância, sobretudo em contraponto com o livro mais recente que alcançou grande sucesso do investigador brasileiro Elias Jabbour
O gigante chinês
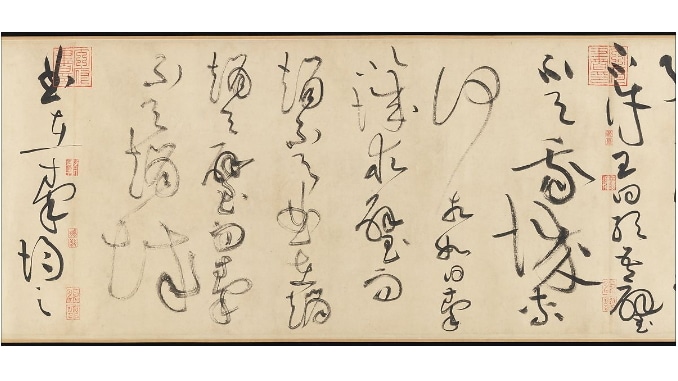
Por CLAUDIO KATZ*
Tão distante do imperialismo como do Sul global.
O caráter imperialista dos Estados Unidos é um dado indiscutível da geopolítica contemporânea. A extensão desse qualificativo à China suscita, por outro lado, debates apaixonados.
Nossa abordagem ressalta a assimetria entre os dois adversários, o perfil agressivo de Washington e a reação defensiva de Pequim. Enquanto a primeira potência procura restaurar seu domínio mundial em declínio, o gigante asiático tenta sustentar um crescimento capitalista sem confrontações externas. Enfrenta também sérios limites históricos, políticos e culturais para intervir com atos de força em escala global. Por estas razões, não faz parte atualmente do clube dos impérios (Katz, 2021).
Esta caracterização contrasta com as abordagens que descrevem a China como uma potência imperial, depredadora ou colonizadora. Define também o grau de eventual proximidade desse estatuto e que condições deveria preencher para situar-se nesse plano.
Nosso ponto de vista também mostra que a China deixou para trás sua antiga condição de país subdesenvolvido e agora faz parte do núcleo das economias centrais. A partir deste novo lugar, capta grandes fluxos internacionais de valor e comanda uma expansão que lucra com os recursos naturais fornecidos pela periferia. Por conta dessa localização na divisão internacional do trabalho, não faz parte do Sul Global.
Nossa visão compartilha as diferentes objeções que foram levantadas quanto à identificação da China como um novo imperialismo. Mas questiona a apresentação do país como um ator meramente interessado na cooperação, na mundialização inclusiva ou na superação do subdesenvolvimento de seus parceiros.
Uma revisão de todos os argumentos em debate ajuda a clarificar o complexo enigma contemporâneo do estatuto internacional da China.
Comparações inadequadas
As teses que postulam o total alinhamento imperial da China atribuem esse posicionamento ao giro pós-maoísta iniciado por Deng na década de 1980. Avaliam que esta guinada consolidou um modelo de capitalismo expansivo, que reúne todas as características do imperialismo. Vêem na subjugação econômica imposta ao continente africano uma confirmação desta conduta. Também denunciam que nessa região a antiga opressão europeia se repete com hipócritas dissimulações retóricas (Turner, 2014: 65-71).
Mas esta caracterização não leva em conta as diferenças significativas entre as duas situações. A China não envia tropas para países africanos – como a França – para convalidar seus negócios. Sua única base militar, numa encruzilhada comercial chave (Djibuti), contrasta com o enxame de instalações que os Estados Unidos e a Europa criaram.
O gigante asiático evita envolver-se nos processos políticos explosivos do continente negro e sua participação nas “operações de paz da ONU” não define um estatuto imperial. Inúmeros países claramente alheios a essa categoria (como o Uruguai) contribuem com tropas para as missões da ONU.
A comparação da China com a trajetória seguida pela Alemanha e pelo Japão durante a primeira metade do século XX (Turner, 2014: 96-100) é igualmente discutível. Não se trata de um curso corroborado pelos fatos. A nova potência oriental tem evitado transitar até agora pelo caminho belicista desses antecessores. Atingiu um impressionante protagonismo econômica internacional, aproveitando as vantagens competitivas que encontrou na globalização. Não compartilha a compulsão pela conquista territorial que acometia o capitalismo alemão ou japonês.
No século XXI, a China desenvolveu formas de produção mundializadas que não existiam no século anterior. Essa novidade deu-lhe uma margem inédita para expandir sua economia, com pautas de cautela geopolítica, inconcebíveis no passado.
As analogias errôneas estendem-se também ao que aconteceu com a União Soviética. Avalia-se que a China repete a mesma implementação do capitalismo e a consequente substituição do internacionalismo pelo “social-imperialismo”. Esta modalidade é apresentada como uma antecipação das políticas imperialistas convencionais (Turner, 2014:46-47).
Mas a China não seguiu a pauta da URSS. Introduziu limites à restauração econômica capitalista e manteve o regime político que colapsou no vizinho. Como um analista assinala corretamente, toda a administração de Xi Jinping tem sido guiada pela obsessão de evitar a desintegração sofrida pela União Soviética (El Lince, 2020). As diferenças estendem-se, na atualidade, ao setor militar externo. A nova potência asiática não empreendeu qualquer ação semelhante à desenvolvida por Moscou na Síria, Ucrânia ou Geórgia.
Critérios errôneos
A China também é colocada no bloco imperial, a partir de avaliações inspiradas num texto conhecido do marxismo clássico (Lenin, 2006). Afirma-se que a nova potência reúne as características econômicas apontadas por esse livro. A gravitação dos capitais exportados, a magnitude dos monopólios e a incidência dos grupos financeiros confirmariam o estatuto imperialista do país (Turner, 2014: 1-4, 25-31, 48-64).
Mas estas características econômicas não fornecem parâmetros suficientes para definir o lugar internacional da China no século XXI. Certamente, o peso crescente dos monopólios, bancos ou capitais exportados aumenta as rivalidades e tensões entre as potências. Mas estes conflitos comerciais ou financeiros não explicam as confrontações imperiais, nem definem o estatuto específico de cada país na dominação mundial.
Suíça, Holanda ou Bélgica ocupam um lugar importante no ranking internacional da produção, troca e crédito, mas não desempenham um papel protagonista no âmbito imperial. Por sua vez, a França ou a Inglaterra desempenham um papel importante neste último domínio, que não deriva estritamente de sua primazia econômica. A Alemanha e o Japão são gigantes da economia com intervenções vedadas fora desse âmbito.
O caso da China é muito mais singular. A preeminência dos monopólios em seu território apenas confirma a habitual incidência desses conglomerados em qualquer país. O mesmo acontece com a influência do capital financeiro, que gravita menos do que em outras economias de grande porte. Ao contrário de seus concorrentes, o gigante asiático conquistou posições na globalização prescindindo da financeirização neoliberal. Além disso, não mantém qualquer semelhança com o modelo bancário alemão do início do século XX que Lenin estudou.
É verdade que a exportação de capitais – apontada pelo líder comunista como um dado marcante de seu tempo – é uma característica significativa da China de hoje. Mas essa influência apenas ratifica a conexão significativa do gigante oriental com o capitalismo global.
Nenhuma das analogias com o sistema econômico imperante no século passado ajuda a definir o estatuto internacional da China. No máximo facilitam a compreensão das mudanças observadas no funcionamento do capitalismo. O que aconteceu na geopolítica global pode ser esclarecido com outros tipos de reflexões.
O imperialismo é uma política de dominação exercida pelos poderosos do planeta através de seus estados. Não constitui uma etapa permanente ou final do capitalismo. O escrito de Lênin esclarece o que aconteceu há 100 anos, mas não o curso dos acontecimentos recentes. Foi elaborado num cenário muito distante de guerras mundiais generalizadas.
O apego dogmático a esse livro induz à procura de semelhanças forçadas do atual conflito entre os Estados Unidos e a China com as conflagrações da Primeira Guerra Mundial (Turner, 2014: 7-11). A principal disputa contemporânea é vista como uma mera repetição das rivalidades inter-imperiais do entreguerras.
Essa mesma comparação está sendo utilizada atualmente para denunciar a militarização chinesa do Mar do Sul. Avalia-se que Xi Jinping persegue os mesmos propósitos que a Alemanha mascarava para apoderar-se da Europa Central, ou que o Japão disfarçava para conquistar o Pacífico Sul. Mas omite-se que a expansão econômica da China tem sido consumada, até agora, sem disparar um único tiro fora de suas fronteiras.
Também se esquece que Lênin não pretendia elaborar um guia classificatório do imperialismo, baseado na maturidade capitalista de cada potência. Apenas sublinhava a catastrófica dimensão belicosa de sua época, sem especificar as condições que cada participante desse conflito tinha que reunir para ser inserido no universo imperial. Ele colocava, por exemplo, uma potência economicamente atrasada como a Rússia dentro desse grupo devido ao seu ativo protagonismo nos derramamentos de sangue militares.
A análise de Lênin sobre o imperialismo clássico é um acervo teórico de grande relevância, mas o papel geopolítico da China no século XXI é clarificado com um conjunto diferente de ferramentas.
Um estatuto apenas potencial
As noções marxistas básicas de capitalismo, socialismo, imperialismo ou anti-imperialismo não são suficientes para caracterizar a política externa da China. Estes conceitos fornecem apenas um ponto de partida. Noções adicionais são necessárias para dar conta do rumo do país. A simples dedução de um estatuto imperial da conversão do gigante oriental na “segunda economia do mundo” (Turner, 2014: 23-24), não permite elucidar os enigmas em jogo.
Mais acertada é a busca de conceitos que registrem a coexistência de uma enorme expansão econômica da China com uma grande distância da primazia estadunidense. A fórmula do “império em formação” tenta retratar esse lugar de gestação, ainda distante do predomínio americano.
Mas o conteúdo concreto desta categoria é controverso. Alguns pensadores atribuem-lhe um alcance mais avançado do que embrionário. Entendem que a nova potência se encaminha de forma acelerada para a adoção de um comportamento imperial corrente. Ressaltam a mudança introduzida com a base militar do Djibuti, a construção de ilhas artificiais no Mar do Sul e a reconversão ofensiva das forças armadas.
Esta visão postula que após várias décadas de acumulação capitalista intensa, a fase imperial já começa a amadurecer (Rousset, 2018). Tal avaliação aproxima-se do contraste típico entre um pólo imperial dominante (Estados Unidos) e um pólo imperial em ascensão (China) (Turner, 2014: 44-46).
Mas persistem diferenças qualitativas muito significativas entre as duas potências. O que distingue o gigante oriental de seu par norte-americano não é a porcentagem de amadurecimento do mesmo modelo. Antes de embarcar nas aventuras imperiais de seu rival, a China deveria completar sua própria restauração capitalista.
O termo “império em formação” poderia ser válido para indicar o caráter embrionário dessa gestação. Mas o conceito só assumiria um significado diferente de maturidade crescente se a China abandonasse sua atual estratégia de defesa. Essa tendência está presente no setor capitalista neoliberal com investimentos no exterior e ambições expansivas. Mas a predominância dessa fração exigiria a submissão do segmento oposto, que privilegia o desenvolvimento interno e preserva a atual modalidade do regime político.
A China é um império em formação apenas em termos potenciais. Administra o segundo produto bruto do planeta, é o primeiro fabricante de bens industriais e recebe o maior volume de fundos do mundo. Mas esta gravitação econômica não tem equivalente na esfera geopolítico-militar que define o estatuto imperial.
Tendências não resolvidas
Outra avaliação considera que a China reúne todas as características de uma potência capitalista, mas com um contorno imperial atrasado e não hegemônico. Descreve o crescimento espetacular de sua economia, apontando os limites que enfrenta para alcançar uma posição vencedora no mercado mundial. Também detalha as restrições que enfrenta no setor tecnológico em comparação com os concorrentes ocidentais.
A partir desta situação ambígua, deduz a vigência de um “estado capitalista dependente com características imperialistas”. A nova potência combinaria as restrições de sua autonomia (dependência), com projetos ambiciosos de expansão externa (imperialismo) (Chingo, 2021).
Mas o registo correto de um lugar intermediário inclui, neste caso, um erro conceitual. Dependência e imperialismo são duas noções antagônicas que não podem ser integradas numa fórmula comum. Não se referem – como centro-periferia – às dinâmicas econômicas de transferência de valor ou a hierarquias na divisão internacional do trabalho. Por essa razão excluem o tipo de misturas que a semiperiferia incorpora.
A dependência supõe a vigência de um Estado submetido a ordens, exigências ou condicionamentos externos, e o imperialismo implica o oposto: supremacia internacional e um elevado grau de intervencionismo externo. Não deveriam ser mesclados numa mesma fórmula. Na China, a ausência de subordinação a outra potência convive com uma grande cautela na ingerência em outros países. Não se verifica a dependência, nem o imperialismo.
A caracterização da China como uma potência que completou sua maturação capitalista – sem poder saltar para o degrau seguinte do desenvolvimento imperial – pressupõe que o primeiro curso não fornece apoio suficiente para consumar avanços em direção à dominação mundial. Mas este raciocínio apresenta como dois estágios do mesmo processo um conjunto de ações econômicas e geopolítico-militares com signo diferente. Esta importante diferenciação é omitida.
Um olhar semelhante sobre a China como um modelo capitalista concluído – navegando no patamar inferior do imperialismo – é exposto por outro autor com dois conceitos auxiliares: capitalismo burocrático e dinâmica sub-imperial (Au Loong Yu, 2018).
O primeiro termo indica a fusão da classe dominante com a elite governante e o segundo retrata uma política limitada de expansão internacional. Mas uma vez que se supõe que o país atua como uma superpotência (em competição e colaboração com o gigante estadunidense), a passagem à plenitude imperial é vista apenas como uma questão de tempo.
Esta avaliação sublinha que a China completou sua transformação capitalista, sem explicar a que se devem os atrasos na sua conversão imperial. Todas as limitações expostas neste segundo terreno poderiam também ser apontadas no primeiro.
Para evitar esses dilemas, é mais fácil constatar que as continuadas insuficiências da restauração capitalista explicam as restrições ao emblema imperial. Como a classe dominante não se ocupa dos meandros do Estado, deve aceitar a estratégia internacional cautelosa promovida pelo Partido Comunista.
Ao contrário dos Estados Unidos, Inglaterra ou França, os grandes capitalistas da China não estão acostumados a exigir a intervenção político-militar de seu estado face à adversidade de um negócio. Não têm tradição de invasões ou golpes de estado em países que nacionalizam empresas ou suspendem o pagamento da dívida. Ninguém sabe quão rápido o estado chinês adotará (ou não) estes hábitos imperialistas e não é correto considerar como consumada essa tendência.
Depredadores e colonizadores?
A apresentação da China como uma potência imperial é frequentemente exemplificada pelas descrições de sua impressionante presença na América Latina. Em alguns casos, postula-se que atua no Novo Mundo com a mesma lógica depredatória implementada pela Grã-Bretanha no século XIX (Ramírez, 2020). Em outras visões, são emitidos alertas contra as bases militares que estaria construindo na Argentina e na Venezuela (Bustos, 2020).
Mas nenhuma destas caracterizações estabelece uma comparação sólida com a ingerência avassaladora das embaixadas estadunidenses. Este tipo de intervenção ilustra o que significa o comportamento imperial na região. A China está a quilômetros de distância de tal intromissão. Lucrar com a venda de bens manufaturados e com a compra de matérias-primas não é o mesmo que enviar marines, treinar militares e financiar golpes de estado.
Mais sensata (e discutível) é a apresentação do gigante oriental como um “novo colonizador” da América Latina. Neste caso, estima-se que o hegemón ascendente tende a negociar um Consenso de Commodities com seus parceiros na área, semelhante ao que foi criado anteriormente pelos Estados Unidos. Esse entrelaçamento com Pequim complementaria o que foi costurado por Washington e garantiria a inserção internacional da região como fornecedora de insumos e compradora de produtos elaborados (Svampa, 2013).
Esta abordagem retrata acertadamente como a atual relação da América Latina com a China aprofunda a primarização da região ou sua especialização nos elementos básicos da atividade industrial. Pequim perfila-se como o principal parceiro comercial do continente e usufrui dos benefícios desta nova posição.
A América Latina, por outro lado, tem sido seriamente afetada pelas transferências de valor em favor da poderosa economia asiática. Não ocupa o lugar privilegiado que a China atribui à África, nem é uma área de relocalização fabril como o Sudeste Asiático. O Novo Continente é cortejado pela dimensão de seus recursos naturais. O esquema atual de abastecimento de petróleo, mineração e agricultura é muito favorável a Pequim.
Mas esta exploração econômica não é sinônimo de dominação imperial ou de incursão colonial. Este último conceito aplica-se, por exemplo, a Israel, que ocupa territórios alheios, desloca a população local e confisca a riqueza palestina.
A migração chinesa não cumpre um papel semelhante. Está dispersa por todos os cantos do planeta, com uma especialização significativa no comércio varejista. Seu desenvolvimento não é controlado por Pequim, nem obedece a projetos subjacentes de conquista global. Um segmento da população chinesa simplesmente migra, em estrita correspondência com os deslocamentos contemporâneas da força de trabalho.
A China consolidou um comércio desigual com a América Latina, mas sem consumar a geopolítica imperial que continua sendo representada pela presença dos marines, da DEA, do Plano Colômbia e da IV Frota. A mesma função cumpre o lawfare ou os golpes de estado.
Aqueles que desconhecem esta diferença costumam denunciar por igual a China e os Estados Unidos como potências agressoras. Colocam os dois adversários no mesmo plano e enfatizam sua prescindência neste conflito.
Mas este neutralismo omite quem é o principal responsável pelas tensões que abalam o planeta. Ignora que os Estados Unidos enviam navios de guerra para a costa de seu rival e eleva o tom das acusações para gerar um clima de conflitos crescentes.
As consequências desse posicionamento são particularmente graves para a América Latina, que tem uma história tempestuosa de intervenções estadunidenses. Ao equiparar essa trajetória com um comportamento equivalente da China no futuro, confunde realidades com eventualidades. Além disso, desconhece-se o papel de um potencial contrapeso à dominação estadunidense que a potência asiática poderia desempenhar numa dinâmica de emancipação latino-americana.
Por outro lado, os discursos que colocam a China e os Estados Unidos no mesmo plano são permeáveis à ideologia anticomunista da direita. Tais diatribes refletem a combinação de medo e incompreensão, que domina todas as análises convencionais do gigante oriental.
Os porta-vozes latino-americanos dessa narrativa costumam incluir saraivadas simultâneas contra o “totalitarismo” chinês e o “populismo” regional. Com a velha linguagem da Guerra Fria, alertam para o papel perigoso de Cuba ou da Venezuela, como peões de uma próxima captura asiática de todo o hemisfério. A sinofobia encoraja todo tipo de disparates.
Distante do Sul global
As abordagens que acertadamente rejeitam a tipificação da China como potência imperialista incluem muitos matizes e diferenças. Um amplo espectro de analistas – que se opõem com razão à classificação do colosso oriental no bloco dos dominadores – costuma deduzir desse registo a localização do país no Sul Global.
Essa visão confunde a geopolítica defensiva no conflito com os Estados Unidos com o pertencimento ao segmento das nações economicamente atrasadas e politicamente submetidas. A China tem até agora ignorado as ações implementadas pelas potências imperialistas, mas esse comportamento não a coloca na periferia, nem no universo das nações dependentes.
O gigante asiático inclusive diferenciou-se do novo grupo de países “emergentes” para atuar como um novo centro da economia global. Basta notar que exportava menos de 1% de todos os produtos manufaturados em 1990 e agora produz 24,4% do valor agregado da indústria (Mercatante, 2020). A China absorve mais-valia através de empresas localizadas no exterior e lucra com o fornecimento de matérias-primas.
Neste marco, a ascensão do país ao pódio das economias avançadas está consumada. Aqueles que continuam identificando o país com o conglomerado do Terceiro Mundo desconhecem essa monumental transformação.
Alguns autores mantêm a velha imagem da China como uma área de investimento para as empresas multinacionais, que exploram a numerosa força de trabalho oriental para transferir na sequência seus lucros para os Estados Unidos ou Europa (King, 2014).
Essa drenagem esteve efetivamente presente na decolagem da nova potência e persiste em certos segmentos da atividade produtiva. Mas a China alcançou seu impressionante crescimento nas últimas décadas retendo a maior parte desse excedente.
Atualmente, a massa de fundos capturados através do comércio e do investimento estrangeiro é muito maior do que os fluxos inversos. Basta observar o montante do superávit comercial ou os créditos financeiros para medir este resultado. A China deixou para trás as principais características de uma economia subdesenvolvida.
Os estudiosos que postulam a continuidade dessa condição tendem a relativizar o desenvolvimento das últimas décadas. Costumam destacar características de atraso que passaram a segundo plano. Os desequilíbrios que a China enfrenta resultam de sobre-investimentos e dos processos de superprodução ou de superacumulação. Deve lidar com as contradições de uma economia desenvolvida.
O gigante oriental não sofre dos típicos sufocos que atormentam os países dependentes. Está livre do desequilíbrio comercial, da deficiência tecnológica, da escassez de investimentos ou da asfixia do poder de compra. Nada na realidade chinesa sugere que seu impressionante poder econômico seja uma mera ficção estatística.
A nova potência conquistou posições na estrutura econômica mundial. Não é correto colocá-la num patamar semelhante às antigas periferias agrícolas, subordinadas às indústrias metropolitanas (King, 2014). Essa inserção corresponde atualmente ao enorme conjunto de nações africanas, latino-americanas ou asiáticas que fornecem os insumos básicos para a maquinaria fabril de Pequim.
A China é periodicamente classificada ao lado dos Estados Unidos no pódio de um G2, que define a agenda estabelecida pelo G7 das grandes potências. Esta avaliação é incompatível com a localização do país no Sul Global. Nesse âmbito retraído, não poderia travar a batalha contra seu rival norte-americano pela liderança da revolução digital. Nem poderia ter desempenhado o papel protagonista que exibiu durante a pandemia.
Após um desenvolvimento acelerado, a China foi colocada na posição de economia credora, em conflito potencial com seus clientes do Sul. Os sinais dessas tensões são numerosos. O medo da titularidade chinesa dos ativos que garantem seus empréstimos gerou resistências (ou cancelamentos de projetos) no Vietnã, Malásia, Mianmar ou Tanzânia (Hart-Landsbergs, 2018).
A controvérsia sobre o porto Hambantota no Sri Lanka ilustra este dilema típico de um grande credor. O não pagamento de uma dívida elevada resultou, em 2017, no arrendamento por 99 anos destas instalações. Com base nessa experiência, a Malásia revisou seus acordos e questionou os acordos que situam as melhores atividades laborais no território chinês. O Vietnã levantou uma objeção semelhante diante da criação de uma zona econômica especial, e os investimentos que envolvem o Paquistão reavivam disputas de todo o tipo.
A China começa a lidar com um estatuto contrário a qualquer pertencimento ao Sul Global. No final de 2018, temia-se o eventual controle da China sobre o porto de Mombasa caso o Quênia incorresse na suspensão dos pagamentos de um passivo (Alonso, 2019). O mesmo receio começa a emergir em outros países que possuem elevados compromissos de difícil cobrança (Iêmen, Síria, Serra Leoa, Zimbábue) (Bradsher; Krauss, 2015).
Visões indulgentes
Outra corrente de autores que registra o papel inédito da China nos dias de hoje elogia a convergência com outros países e a transição virtuosa para um bloco multipolar. Expõe estes cenários com simples descrições dos desafios que o país enfrenta para manter seu rumo ascendente.
Mas estes retratos bem-aventurados omitem que a consolidação do capitalismo na China acentua todos os desequilíbrios já gerados pelas mercadorias excedentes e pelos capitais excedentes. Essas tensões acentuam, por sua vez, a desigualdade e a deterioração do meio ambiente. O desconhecimento destas contradições impede-nos de perceber como a estratégia defensiva internacional da China é minada pela pressão competitiva imposta pelo capitalismo.
A apresentação do país como “um império sem imperialismo” – que opera centrado em si mesmo – é um exemplo destas visões condescendentes. Postula que a nova potência oriental desenvolve um comportamento internacional respeitoso, de modo a não humilhar seus adversários ocidentais (Guigue, 2018). Mas esquece que essa convivência não é apenas corroída pelo assédio de Washington contra Pequim. A vigência na China de uma economia cada vez mais orientada para o lucro e para a exploração amplia esse conflito.
É verdade que o alcance atual do capitalismo é limitado pela presença reguladora do estado e pelas restrições oficiais à financeirização e ao neoliberalismo. Mas o país já sofre com os desequilíbrios impostos por um sistema de rivalidade e espoliação.
A crença de que no universo oriental rege uma “economia de mercado” – qualitativamente diferenciada do capitalismo e estranha às perturbações desse regime – é o equívoco duradouro semeado por um grande teórico do sistema mundial (Arrighi, 2007: capítulo 2). Esta interpretação omite que a China não escapará das consequências do capitalismo se consolidar a restauração inacabada desse sistema.
Outras visões inocentes sobre o desenvolvimento atual consideram frequentemente a política externa da China como “mundialização inclusiva”. Destacam o tom pacífico que caracteriza uma expansão baseada em negócios, e assentada em princípios de ganhos partilhados por todos os participantes. Essas apresentações realçam também a “aliança intercivilizacional” provocada pelo novo entrelaçamento global de nações e culturas.
Mas será possível forjar uma “mundialização inclusiva” no capitalismo? Como plasmar o princípio de ganhos mútuos, num sistema regido pela concorrência e pelo lucro?
Na verdade, a globalização implicou dramáticas brechas entre ganhadores e perdedores, com a consequente ampliação da desigualdade. A China não pode oferecer soluções mágicas para esta adversidade. Ao contrário, aumenta suas consequências ao expandir sua participação em processos econômicos regidos pela exploração e pelo lucro.
Até agora, conseguiu limitar os efeitos tempestuosos desta dinâmica, mas as classes dominantes e as elites neoliberais do país estão determinadas em ultrapassar todos os obstáculos. Pressionam para inserir Pequim nas crescentes assimetrias impostas pelo capitalismo global. Fechar os olhos para esta tendência implica um auto-ocultamento da realidade.
O próprio governo chinês elogia a globalização capitalista, exalta as cúpulas de Davos e enaltece as virtudes do livre-comércio com elogios vazios ao universalismo. Algumas versões tentam conciliar esta reivindicação com os princípios básicos da doutrina socialista. Afirmam que a Rota da Seda sintetiza as modalidades contemporâneas de expansão econômica, como ponderava em meados do século XIX o Manifesto Comunista.
Mas os críticos desta interpretação insólita lembraram que Marx nunca aplaudiu esse desenvolvimento (Lin Chun, 2019). Pelo contrário, ele denunciou suas terríveis consequências para as maiorias populares de todo o planeta. Com alquimias teóricas não se pode harmonizar o irreconciliável.
Controvérsias sobre a cooperação
Outra visão complacente do rumo atual destaca a componente de cooperação da política externa chinesa. Salienta que esse país não é responsável pelas desventuras sofridas por seus clientes da periferia e ressalta o caráter genuíno do investimento impulsionado por Pequim. Recorda também que a pujança exportadora se baseia em incrementos da produtividade, que em si mesmos não afetam as economias relegadas (Lo Dic, 2016).
Mas esta idealização dos negócios omite o efeito objetivo da troca desigual, que marca todas as transações realizadas sob a égide do capitalismo mundial. A China capta excedentes das economias subdesenvolvidas pela própria dinâmica dessas transações. Obtém grandes lucros porque sua produtividade é superior à média desses clientes. O que é apresentado num tom ingênuo como um mérito peculiar da potência asiática é o princípio da desigualdade generalizada que prevalece no capitalismo.
Ao afirmar que “a China não prioriza” seus parceiros da América Latina ou da África, postula-se a responsabilidade exclusiva do sistema mundial por esse infortúnio. Omite-se que a participação protagonista da nova potência é um dado central do comércio internacional.
Sugerir que a China “não tem culpa” pelos efeitos gerais do capitalismo equivale a encobrir os lucros que obtêm as classes dominantes desse país. Esses setores lucram por meio do aumento ponderado da produtividade (com a utilização de mecanismos de exploração dos assalariados) e materializam esses lucros na troca com as economias atrasadas.
Ao elogiar uma expansão chinesa “mais assentada na produtividade do que na exploração” (Lo, Dez, 2018), omite-se que ambos os componentes retroalimentam o mesmo processo de apropriação do trabalho alheio.
A contraposição entre a louvada produtividade e a contestada exploração é típico da teoria econômica neoclássica. Essa concepção imagina a confluência no mercado de diferentes “fatores de produção”, omitindo que todos esses componentes se baseiam na mesma extração de mais-valia. Tal expropriação é a única fonte real de todos os lucros.
A mera reivindicação do perfil produtivo da China também costuma destacar o contrapeso que introduziu à primazia internacional da financeirização e do neoliberalismo (Lo Dic, 2018). Mas os limites interpostos ao primeiro processo (fluxos especulativos internacionais) não diluem o apoio dado ao segundo (atropelos capitalistas contra os trabalhadores).
A reintrodução do capitalismo na China foi o grande incentivo para a relocalização das empresas e o consequente barateamento da força de trabalho. Essa mudança contribuiu para a recomposição da taxa de lucro nas últimas décadas. Para que o gigante asiático pudesse cumprir um papel eficaz de cooperação internacional, deveria adotar estratégias internas e externas de reversão do capitalismo.
Disjuntivas e cenários
A China deixou para trás sua antiga condição de território dilacerado por incursões estrangeiras. Já não atravessa a situação dramática que enfrentou nos últimos séculos. Confronta o agressor norte-americano de uma condição muito distante do desamparo predominante na periferia. Os estrategistas do Pentágono sabem que não podem tratar seu rival como o Panamá, Iraque ou Líbia.
Mas esse fortalecimento da soberania foi acompanhado pelo abandono das tradições anti-imperialistas. O regime pós-maoísta distanciou-se da política internacional radicalizada que patrocinava a Conferência de Bandung e o Movimento dos Não-Alinhados. Também enterrou qualquer gesto de solidariedade com as lutas populares no mundo.
Esta mudança é a outra face de sua cautela geopolítica internacional. A China evita conflitos com os Estados Unidos, sem interferir nos atropelos de Washington. A elite governante enterrou todos os vestígios de simpatia com as resistências ao principal opressor do planeta.
Mas essa alteração enfrenta os mesmos limites que a restauração e o salto para um estatuto internacional dominante. Está sujeita à disputa não resolvida pelo futuro interno do país. O rumo capitalista promovido pelos neoliberais tem consequências pró-imperialistas tão fortes como o rumo anti-imperialista promovido pela esquerda. O conflito com os Estados Unidos terá um impacto direto nessas definições.
Quais são os cenários que se vislumbram na luta com o concorrente norte-americano? A hipótese de uma distensão (e consequente reintegração de ambas as potências) foi diluída. Os sinais de uma luta duradoura são esmagadores e desmentem os diagnósticos da assimilação da China à ordem neoliberal como parceiro dos Estados Unidos que alguns autores postularam (Hung, Ho-fung, 2015).
O contexto atual também dissipa as esperanças na gestação de uma classe capitalista transnacional com membros chineses e estadunidenses. A escolha asiática de um rumo diferenciado do neoliberalismo não é a única razão deste divórcio (Robinson, 2017). A associação “chinamérica” – antes da crise de 2008 – tampouco incluía amálgamas entre classes dominantes ou esboços do surgimento de um estado partilhado.
A curto prazo, verifica-se a forte ascensão da China diante de um evidente retrocesso dos Estados Unidos. O gigante oriental está ganhando a disputa em todos os setores e sua recente gestão da pandemia confirmou este resultado. Pequim conseguiu controlar rapidamente o alcance da infecção, enquanto Washington enfrentou um transbordamento que colocou o país no topo do número de mortos.
A potência asiática também destacou-se por suas ajudas sanitárias internacionais, diante de um rival que exibiu um egoísmo arrepiante. A economia asiática já retomou sua elevada taxa de crescimento, enquanto sua contraparte americana está lidando com uma recuperação duvidosa do nível de atividade. A derrota eleitoral de Trump coroou o fracasso de todas as operações estadunidenses para submeter a China.
Mas o cenário a médio prazo é mais incerto e os recursos militares, tecnológicos e financeiros que conserva o imperialismo norte-americano tornam impossível antecipar quem sairá vitorioso da confrontação.
Em termos gerais, poderiam ser previstos três cenários diferentes. Se os Estados Unidos vencerem a queda de braços, poderiam começar a reconstituir sua liderança imperial, subordinando seus parceiros asiáticos e europeus. Se, por outro lado, a China obtiver êxito com uma estratégia capitalista de livre-comércio, consolidaria sua transformação numa potência imperial.
Mas uma vitória do gigante oriental alcançada num contexto de rebeliões populares modificaria completamente o cenário internacional. Esse triunfo poderia induzir a China a retomar sua posição anti-imperialista, num processo de renovação socialista. O perfil do imperialismo no século XXI é decidido em torno destas três possibilidades.
*Claudio Katz é professor de economia na Universidad Buenos Aires. Autor, entre outros livros, de Neoliberalismo, neodesenvolvimentismo, socialismo (Expressão Popular).
Tradução: Fernando Lima das Neves.
Referências
-Alonso, Pedro (2019). China en África, ¿un nuevo imperialismo? 14/06 https://www.lavanguardia.com/politica/20190614/462860235541/
-Arrighi, Giovanni (2007). Adam Smith en Pekín, Akal, Madrid.
-Au Loong Yu (2018), Debate sobre la naturaleza del estado chino, https://portaldelaizquierda.com/05
-Bradsher, Keith; Krauss, Clifford (2015) China amplía su poder y hace sentir su peso Con nuevas inversiones y exigencias, inicia una política más agresiva http://editorialrn.com.ar/index.php?
-Bustos, Nadia (2020). En las grandes ligas. El lugar de China en la política mundial. El Aromo n 109 26 en https://razonyrevolucion.org
-Chingo, Juan (2021). La ubicación de China en la jerarquía del capitalismo global, 24 en https://www.laizquierdadiario.com
-El Lince (2020), ¿“Capitalismo sui generis versus socialismo con características chinas”? 9 oct, https://canarias-semanal.org/art/28783/
-Guigue, Bruno (2018), El socialismo chino y el mito del fin de la historia, 29-11- http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249582
-Hart-Landsbergs, Martin (2018). “Una estrategia defectuosa”: Una mirada crítica a la iniciativa China del cinturón y la ruta de la seda, http://www.sinpermiso.info/textos
-Hung, Ho-fung (2015). China and the lingering Pax Americana, BRICS An Anti-Capitalist Critique. Haymarket, Chicago.
-Katz, Claudio (2021). Estados Unidos y China: una puja entre potencias disimiles 19-4-2021, www.lahaine.org/katz
-King, Sam (2014). Lenin’s theory of imperialism: a defence of its relevance in the 21st century, Marxist Left Review n 8,
-Lenin, Vladimir (2006). El imperialismo, fase superior del capitalismo, Quadrata, Buenos Aires.
-Lin, Chun (2019). China’s new globalization Vol 55: Socialist Register 2019: A World Turned Upside Down? https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/30939
-Lo, Dic (2016) Developing or Under-developing? Implications of China’s ‘Going out’ for Late Development, SOAS Department of Economics Working Paper, No. 198, London: SOAS, University of London.
-Lo, Dic (2018). Perspectives on China’s Systematic Impact on Late Industrialization: A Critical Appraisal SOAS University of London July
-Mercatante, Esteban (2020). Desarrollo desigual e imperialismo hoy: una discusión con David Harvey, 30-08 https://www.laizquierdadiario.com
-Ramírez, Sebastián (2020). Más sobre el carácter de China 05 de diciembre https://pcr.org.ar/nota/mas-sobre-el-caracter-de-china/
-Robinson, William (2017). I China and Trumpism: The Political Contradictions of Global 14 feb. https://www.telesurtv.net
-Rousset, Pierre (2018). Geopolítica china: continuidades, inflexiones, incertidumbres, 25/07/ https://vientosur.info/spip.php?article14038
-Svampa Maristella, (2013), “El consenso de commodities y lenguajes de valoración en América Latina”, www.iade.org.ar, 02/05.
-Turner, N. B (2014). Is China an Imperialist Country? Considerations and Evidence March 20, https://redstarpublishers.org/
As crianças
Adultização precoce e sexualização infantil

Por JOÃO HÉLIO FERREIRA PES*
A mercantilização da infância e a exposição precoce a estímulos adultos comprometem o desenvolvimento integral das crianças, transformando-as em consumidores e objetos de desejo em uma sociedade hipersexualizada
Nos últimos dias, emergiu um tema que tem sido amplamente discutido, mas ainda não aprofundado com a radicalidade necessária, no sentido de se analisar a raiz do problema. Trata-se do fenômeno da adultização precoce e da sexualização infantil, que tem despertado crescente preocupação entre pais, educadores e pesquisadores. A exposição de crianças, sobretudo pela internet, a comportamentos, práticas e valores que não condizem com sua faixa etária compromete seu desenvolvimento integral.
Mais do que um problema isolado, esse fenômeno revela as contradições do sistema capitalista contemporâneo que, ao mercantilizar a infância, transforma meninos e meninas em consumidores precoces e, ainda mais grave, em objetos de desejo em contextos de hipersexualização cultural.
A lógica do mercado, sustentada pela exploração incessante do consumo, tem papel central nesse processo. A publicidade direcionada, o marketing infantil e a cultura midiática voltada para a erotização de corpos ainda em formação contribuem para naturalizar a exposição precoce das crianças a estímulos que estimulam condutas adultas.
Programas de televisão, redes sociais, influenciadores digitais e até mesmo a indústria da moda alimentam a ideia de que meninas e meninos precisam se comportar como adultos em miniatura. Nesse contexto, a infância é corroída pela lógica capitalista, que coloca o lucro acima da proteção e do bem-estar.
No contexto histórico da antropologia social é bem recente a preocupação com cuidados a crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento, de modo geral, as crianças eram consideradas adultos em miniatura sujeitos às mesmas responsabilidades dos adultos[i].
O reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direito, capazes de invocar não apenas os direitos humanos atribuídos aos adultos, mas também direitos próprios de sua condição peculiar de desenvolvimento, é um marco recente.
Internacionalmente, esse avanço consolidou-se com a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, considerada por Antonio Augusto Cançado Trindade uma das seis “Convenções centrais”[ii] das Nações Unidas. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 já havia incorporado a doutrina da proteção integral em seu artigo 227, em sintonia com as discussões internacionais preparatórias da Convenção.
A Convenção de 1989 representou um salto qualitativo ao abranger direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, reafirmando a Declaração Universal de 1948, que já previa cuidados e assistência especiais à infância. No Brasil, sua incorporação transformou o paradigma jurídico e social: crianças e adolescentes passaram a ser titulares de direitos fundamentais plenos, e não meros objetos de tutela. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), inspirado nesse novo marco, instituiu garantias legais que refletem a prioridade absoluta e a responsabilização compartilhada entre Estado, família e sociedade. Essa mudança foi decisiva para consolidar uma visão mais ampla de cidadania e dignidade da criança.
No entanto, a efetividade de qualquer legislação que garanta direitos humanos fica profundamente comprometida numa sociedade em que a competição, o individualismo e a garantia de direitos patrimoniais se sobressaem. O período pandêmico agravou essa realidade. Com o aumento do tempo de crianças e adolescentes em ambientes virtuais, intensificou-se a exposição a conteúdos impróprios e a pressões estéticas e comportamentais.
Muitas vezes sem a supervisão adequada, esse público foi alvo fácil da propaganda e de dinâmicas de interação online que reforçam a adultização e a sexualização. Nesse período “milhões de crianças ao redor do mundo foram obrigadas a ficar em casa, privadas do ambiente escolar estruturado, da interação com colegas e do suporte dos professores”[iii]. O isolamento social, aliado à necessidade de lazer e conexão, colocou a internet como espaço central, mas também como ambiente de risco.
O problema, entretanto, não se resume ao mundo virtual. Ele reflete uma cultura mais ampla, na qual a erotização da infância serve como estratégia de mercado. A indústria cultural lucra com a transformação de crianças em consumidores de roupas, cosméticos, brinquedos erotizados e estilos de vida incompatíveis com sua idade. Essa lógica de consumo compromete a construção de identidades saudáveis e amplia os riscos de violência, abuso e exploração sexual.
Nesse cenário, torna-se evidente a conexão entre degradação humana e degradação social, como enfatiza o Papa Francisco em sua Encíclica Laudato Si’. Para o pontífice, “os poderes econômicos continuam a justificar o sistema mundial atual, onde predomina uma especulação e uma busca de receitas financeiras que tendem a ignorar todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade humana e sobre o meio ambiente”[iv].
A adultização precoce é, portanto, uma das faces dessa degradação ética e social: a infância, realidade frágil por excelência, torna-se indefesa diante dos interesses do mercado divinizado, transformado em regra absoluta.
Diante desse cenário, é urgente repensar as práticas sociais e institucionais. A proteção da infância deve ser tratada como prioridade absoluta, conforme estabelecem a Constituição Federal de 1988, tratados internacionais ratificados pelo Brasil e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei nº 8.069/1990). Isso implica regulamentar melhor a publicidade infantil, regulamentar e fiscalizar as plataformas digitais, responsabilizar empresas que se aproveitam da erotização precoce e investir em educação crítica para pais, escolas e comunidades. Mais que isso, exige questionar a lógica capitalista que reduz a criança a mero consumidor e mercadoria.
Ao final, discutir adultização precoce e sexualização infantil é discutir o tipo de sociedade que queremos construir. Uma sociedade que preserva a infância como fase essencial de formação humana, livre de pressões mercantis e da erotização precoce, é também uma sociedade mais justa, igualitária e comprometida com os direitos fundamentais.
*João Hélio Ferreira Pes é professor de direito da Universidade Franciscana – UFN (Santa Maria, RS). Autor, entre outros livros de Privatização e mercantilização das águas (Dialética). [https://amzn.to/465GYjX]
Referências
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2° edição. Tradução Dora Falksman. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1986.
BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
FRANCISCO, Papa. Laudato Si’: sobre o cuidado da casa comum. São Paulo: Paulus, 2015.
PES, João Hélio Ferreira. Direitos Humanos: crianças e adolescentes. Curitiba: Juruá, 2010.
PES, João Hélio Ferreira; GARCIA, Jaci Rene Costa; WERNER, Priscila Cardoso; LIMA, Lara Gabrielle Oliveira de. Adultização precoce, sexualização infantil e outros fenômenos decorrentes da exposição de crianças e adolescentes em ambiente virtual no período pandêmico. In SILVA, Rosane Leal; VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes em tempos de pandemia. Florianópolis: Habitus Editora, 2024.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2021.
Notas
[i] ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2° edição. Tradução Dora Falksman. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1986, p. 14.
[ii] PES, João Hélio Ferreira. Direitos Humanos: crianças e adolescentes. Curitiba: Juruá, 2010, p.35.
[iii] PES, João Hélio Ferreira; GARCIA, Jaci Rene Costa; WERNER, Priscila Cardoso; LIMA, Lara Gabrielle Oliveira de. Adultização precoce, sexualização infantil e outros fenômenos decorrentes da exposição de crianças e adolescentes em ambiente virtual no período pandêmico. In SILVA, Rosane Leal; VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes em tempos de pandemia. Florianópolis: Habitus Editora, 2024, p. 210.
[iv] FRANCISCO, Papa. Laudato Si’: sobre o cuidado da casa comum. São Paulo: Paulus, 2015, p. 36.
Viagem à Polónia

Auschwitz: nele pereceram 4 milhôes de judeus. Depois dos nazis os genocídios continuaram por outras formas.
Viagem à Polónia

Auschwitz, Campo de extermínio. Memória do Mal Absoluto.