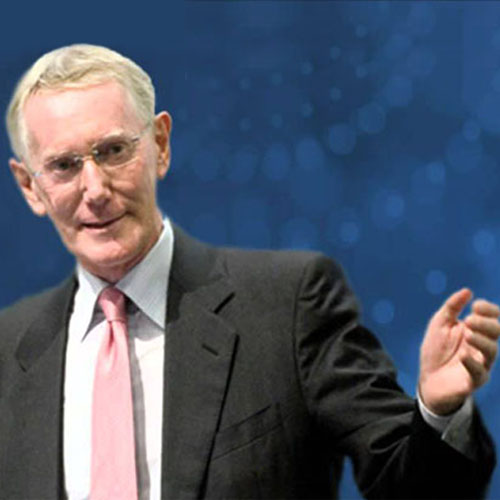O capitalismo pode sobreviver à democracia? | Uma homenagem a Ellen Wood
O pensamento
marxista perdeu, em pouco tempo, dois de seus maiores expoentes
contemporâneos – Benedict Anderson e Ellen Meiksins Wood. Benedict,
irmão de Perry Anderson, foi um dos maiores especialistas nos
nacionalismos atuais, tendo seu livro Comunidades imaginadas
como uma das leituras indispensáveis sobre o tema. Ellen foi uma das
mais importantes pensadoras marxistas do século XX, e seu livro Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico se constituiu como um marco do pensamento político.
Como forma
de homenageá-la, retomo aqui o texto de uma conferencia que preparei,
centrado nesse livro dela, sobre o tema das diferenças entre a
democracia antiga e a moderna.
* * *
Na ruptura
radical entre o capitalismo moderno e a democracia ateniense se situa
tanto a eliminação a escravidão, como também a forma do trabalho livre
perder grande parte do status político e cultural que tinha na
democracia grega. Assim, paradoxalmente, a passagem das antigas
sociedades escravistas para o capitalismo liberal moderno acabou sendo
marcado – apesar do fim da escravidão –, pelo declínio do status do trabalho.
Ficou sempre
em aberto a questão de como conviviam a escravidão e a democracia,
tendendo a repousar as explicações no fato de que esta seria uma
“democracia de fachada”, esvaziada, “restrita” aos homens livres.
Deixava-se assim de captar a força da democracia grega e, ao mesmo
tempo, não se considerava o peso do trabalho livre na Grécia Antiga. A
escravidão representa, obviamente, o desprezo geral pelo trabalho,
permitindo que se desvinculasse totalmente a forma de apropriação do
excedente, das formas de organização política, já que escravidão e
democracia seriam incompatíveis.
Mas “a
condição desfrutada pelo trabalho livre na democracia de Atenas não tem
precedentes e, sob muitos aspectos, permaneceu inigualável desde então”.
A maioria dos cidadãos atenienses trabalhava para viver. Quando se
separa a historia política e cultural grega de toda raiz social, a
escravidão fica no centro do palco como o grande fato determinante:
“Os
historiadores geralmente concordam que a maioria dos cidadãos
atenienses trabalhava para viver. Ainda assim, depois de colocar o
cidadão trabalhador ao lado do escravo na vida produtiva da democracia,
eles não se interessaram pelas consequências dessa formação única, desse
trabalhador livre e desse status político sem precedentes. Onde existe a
tentativa de estabelecer ligações entre as fundações materiais da
sociedade ateniense e sua política ou cultura (e a tendência dominante é
ainda a de separar a história política e cultural grega de toda raiz
social), é a escravidão que fica no centro do palco como o grande fato
determinante.” (Democracia contra o capitalismo, p.162)
Nas
sociedades pré-capitalistas, em que os camponeses eram a principal
classe produtora, a apropriação assumia a forma da apropriação de vários
mecanismos de dependência política e jurídica, por coação direta – por
meio da dívida, da escravidão, de relações tributarias, impostos,
corveia, etc.
Na Grécia
surgiu uma nova forma de organização que uniu proprietários e
camponeses, numa unidade cívica e militar. A ideia de uma comunidade cívica e de cidadania,
como algo diferente de um aparelho estatal, era característica da
Grécia e de Roma, indicando uma relação inteiramente nova entre
apropriadores e produtores. O cidadão camponês era um tipo
social especifico das cidades-Estado gregas e romanas e representou uma
ruptura radical com todas as outras civilizações avançadas conhecidas no
mundo antigo.
“A pólis grega quebrou o padrão geral das sociedades estratificadas de divisão entre governantes e produtores […]
Na comunidade cívica, a participação do produtor […] significava um
grau sem paralelos de liberdade dos modos tradicionais de exploração,
tanto na forma de obrigação por dívida ou de servidão quanto na de
impostos.” (p.163)
“Em
nenhum outro lugar o padrão típico de divisão entre governantes e
produtores foi quebrado de forma tão completa quanto na democracia
ateniense […] Embora os conflitos políticos entre democratas e oligarcas
em Atenas nunca tenham coincidido exatamente com uma divisão entre
classes apropriadoras e classes e produtoras permaneceu uma tensão entre
cidadãos que tinha interesses na restauração do monopólio aristocrático
da condição política e os que resistiam a ela, uma divisão entre
cidadãos para quem o Estado deveria servir como meio de apropriação e
cidadãos para quem ele deveria servir como proteção contra a
exploração.” (p.164-5)
Que a
importância do trabalho livre na Grécia Antiga tenha se perdido na
sombra da escravidão, pela historiografia moderna, isso diz mais sobre a
política da Europa moderna do que sobre a democracia ateniense.
A
historiografia conservadora advertia sobre “os perigos da democracia”
(no momento da Revolução Francesa). A escravidão e os pagamentos
públicos são considerados fontes de corrupção da democracia, acostumando
a multidão à “indolência” e dando a ela o lazer de participar da
política, “ao passo que nos países em que a servidão não existia, os
cidadãos, obrigados a trabalhar para garantir a própria sobrevivência,
não tinham tanta disponibilidade para se empregar nos negócios do
governo […] a falta de ocupação o tornava indolente. Como via apenas
escravos a trabalhar, ele desprezava o trabalho”.
A questão não era o fato os atenienses não trabalharem o suficiente mas, acima de tudo, o fato de não servirem. “Sua
independência e o lazer que desfrutavam para poder participar da
política foram a causa da condenação da democracia grega. […] a
participação da multidão era um mal em si mesmo […] Na ausência das
formas tradicionais de controle político, se fazia necessária uma
espécie de disciplina econômica tornada possível [pela
sociedade capitalista]. […] faltava o Estado e a economia burguesa
modernos. […] a independência do cidadão trabalhador foi
consistentemente traduzida como indolência da ralé ociosa, e com ela
veio a predominância da escravidão.”
Para Hegel, a
condição básica da política democrática eram os cidadãos serem
liberados a necessidade do trabalho. Essa leitura serviu, para que a
historiografia conservadora, sem nenhum interesse em enfatizar a
multidão trabalhadora na democracia ateniense, legitimasse seu
descrédito da massa democrática.
A transição
da multidão mecânica para a ralé ociosa ocorreu no século XVIII,
especialmente na Inglaterra. Wood cita E. P. Thompson:
“O
século XVIII testemunhou uma mudança qualitativa nas relações de
trabalho. Uma proporção substancial da força de trabalho ficou realmente
mais livre da disciplina do trabalho diário, mais livre para
escolher entre empregadores e entre trabalho e lazer, menos presa a uma
posição de dependência em todo o seu modo de vida do que havia sido
antes ou do que viria a ser nas primeiras décadas da disciplina das
fabricas e do relógio. Trabalhando geralmente em suas próprias casas,
possuindo ou alugando suas próprias ferramentas, trabalhando para
pequenos empregadores, muitas vezes em horas irregulares em mais de um
emprego, eles conseguiram fugir dos controles sociais da casa senhorial e
ainda não estavam sujeitos à disciplina do trabalho na fábrica. O
trabalho livre trouxe consigo um enfraquecimento dos velhos meios de
disciplina social.” (THOMPSON, E. P. Customs in Common, Londres, 1991, p. 38-42.)
Os
trabalhadores pobres da Inglaterra, desprezando a “grande lei da
subordinação” e a tradicional deferência do servo para com o senhor,
alternavam-se entre “o clamor e o motim”, “amadurecendo para toa espécie
de maus atos, seja a insurreição publica, ou o saque privado, e,
“insolentes, preguiçosos, ociosos e devassos […] eles trabalham apenas
dois ou três dias da semana.”
É necessário
destacar as diferenças fundamentais entre a condição do trabalho na
antiga democracia ateniense das condições de trabalho no capitalismo
moderno.
“Na
democracia capitalista moderna, a desigualdade e a exploração
socioeconômica coexistem com a liberdade e a igualdade cívicas. […] O
poder do capitalista de se apropriar da mais-valia dos trabalhadores não
depende de privilégio jurídico nem de condição cívica, mas do fato de
os trabalhadores não possuírem propriedade, o que os obriga a trocar sua
força de trabalho por um salario para ter acesso aos meios de trabalho e
de subsistência. Os trabalhadores estão sujeitos tanto ao poder o
capital quanto aos imperativos da competição e da maximização dos
lucros.” (Democracia contra o capitalismo, p.173)
O direito de
cidadania não é determinado pela posição socioeconômica, e a igualdade
cívica, por sua vez, não afeta diretamente a desigualdade de classe e a
democracia formal deixa fundamentalmente intacta a exploração de classe.
Assim o capitalismo coexiste com a democracia formal.
A cidadania
democrática em Atenas significava que os pequenos produtores diretos
estavam livres de extorsões extra-econômicas às quais os produtores
diretos nas sociedades pré-capitalistas sempre foram submetidos. A
igualdade política não somente coexistia com a desigualdade
sócio-economica, mas também a modificava substancialmente – a democracia
era mais substantiva do que formal. Na Grécia Antiga a cidadania tinha
profundas consequências para camponeses e artesãos. Somente no
capitalismo tornou-se possível deixar fundamentalmente intactas as
relações e propriedade entre capital e trabalho, enquanto se permitia a
democratização dos direitos políticos e civis.
Mas poderia o capitalismo sobreviver à democracia?
Para que
isto acontecesse, a antiga ideia grega foi derrotada por uma concepção
completamente nova da democracia. O momento critico dessa redefinição
foi a fundação dos Estados Unidos. Os direitos políticos no capitalismo
deixaram de ter a importância que tinha a cidadania na democracia grega.
A democracia passou a ficar confinada a uma esfera “política” – em que
aparentemente residiria o poder – formalmente separada, enquanto a
economia seguia suas regras próprias. Se já não era possível reduzir a
quantidade de cidadãos, então se passou a restringir o alcance da
cidadania, esvaziando-a de poder real.
O antigo conceito de democracia surgiu de uma experiência histórica que conferiu status cívico
único às classes subordinadas, criando, principalmente, aquela figura
sem precedentes, o cidadão-camponês. O modelo moderno vem basicamente da
experiência anglo-americana (estadunidense), de que ha variantes alemã,
francesa e inglesa. O modelo moderno representa basicamente a ascensao
das classes proprietárias (burguesas). Não se trata de camponeses que se
libertam da opressão de seus senhores, mas da afirmação dos novos
grandes proprietários de sua independência em relação à monarquia. Esta é
a origem dos princípios constitucionais modernos, das ideias de governo
limitado, da separação de poderes, como critérios centrais da
democracia.
Se a cidadania é o conceito constitutivo da democracia antiga, o princípio fundamental da democracia moderna é o senhorio. O cidadão ateniense afirmava não ter senhor, não ser escravo de nenhum homem mortal.
A Magna
Carta (de 1688), ao contrario, foi um documento não da cidadania livre,
mas dos próprios senhores que afirmaram privilégios feudais e a
liberdade da aristocracia tanto contra a Coroa quanto contra a multidão
popular: a liberdade de 1688 representou o privilegio dos senhores
proprietários de dispor como quisessem de sua propriedade e de seus
servos.
A afirmação
do privilégio aristocrático contra a invasão das monarquias produziu a
tradição da “soberania popular”, de que deriva a concepção moderna de
democracia: o povo passou a ser um estrato restrito da população, que
constituía a nação política situada entre a monarquia e a multidão.
Enquanto a democracia grega teve o efeito de quebrar oposição entre
governantes e produtores, ao transformar camponeses em cidadãos, a
divisão entre proprietários governantes e súditos camponeses foi a
condição constitutiva da “soberania popular”, no começo da Europa
moderna. Trata-se do surgimento de uma nova espécie de poder “limitado”
do Estado, a fonte do que seriam chamados de princípios democráticos,
como o constitucionalismo, a representação e as liberdades civis. A
“nação política” que emergiu e manteve a subordinação política das
classes produtoras.
Na
Inglaterra, a anuência do Parlamento passou a representar a anuência de
todos. Um homem era considerado presente no Parlamento, mesmo se não
tivesse o direito de eleger o seu representante. Uma minoria de
proprietários tinha o direito de representar toda a população. O
Parlamento é soberano, mas o povo não. A doutrina da soberania
parlamentar atua contra o poder popular. Só existe política no
Parlamento atrelada a uma crescente concentração do poder no Parlamento e
especialmente no executivo.
A cidadania
ativa seria reservada aos homens proprietários e deveria excluir não
apenas as mulheres (consideradas seres “de carne”, não “de razão”), mas
também os homens que não tivessem “com que viver por si só” – ou seja,
aqueles cuja sobrevivência depende do trabalho prestado a outros.
Divisão, portanto, entre uma elite proprietária e uma multidão
trabalhadora.
Ao deslocar o
centro do poder para a propriedade, o capitalismo tornou menos
importante o status cívico, pois os benefícios do privilegio político
deram lugar à vantagem puramente “econômica”, o que tornou possível uma
nova forma de democracia (Que todos participem das decisões, porque o
poder está em outro lugar).
Por isso,
foi necessário apresentar as relações entre capital e trabalho como
relações entre indivíduos iguais e livres, sem direitos e obrigações
normativas, privilégios ou restrições jurídicas.
O surgimento
do “individuo” – soberania individual – teve um preço pago pela
multidão trabalhadora, tendo que se desfazer seus laços da comunidade do
trabalho, para ingressar como indivíduo ao sistema politico. Foi na
forma de um agregado de indivíduos isolados, sem propriedade e vínculos
comunitários, que a “multidão trabalhadora” entrou para a comunidade de
cidadãos. O pressuposto histórico de sua cidadania foi a desvalorização
da esfera pública, e a consolidação de uma nova relação entre o
econômico e o político, com os poderes transferidos para aquela esfera
da propriedade privada e do mercado, em que a vantagem puramente
econômica assume o lugar do privilégio e do monopólio jurídico do mundo
pre-capitalista. A desvalorização da cidadania é atributo essencial da
democracia moderna. Daí a tendência da doutrina liberal de representar
os desenvolvimentos históricos que produziram a cidadania formal com a
ênfase na liberdade do individuo – a liberação do individuo de um Estado
arbitrário.
Na Atenas
democrática, cidadania significava que os pequenos produtores, em
particular os camponeses, eram, em grande parte livres da exploração
“extra-econômica”. As liberdades política e econômica eram inseparáveis.
Na democracia capitalista a posição sócio-econômica não determina o
direito à cidadania (todos são iguais diante da lei e ai começa a
desigualdade, segundo Marx) – e a isso se resume o significado do
“democrático” na democracia capitalista. A igualdade jurídica nem
modifica significativamente a desigualdade de classe – e é isso o que
limita a democracia no capitalismo. A igualdade política na democracia
capitalista coexiste com a desigualdade sócio-econômica e a deixa
fundamentalmente intacta.
Emir Sader, in Blog da BoiTempo