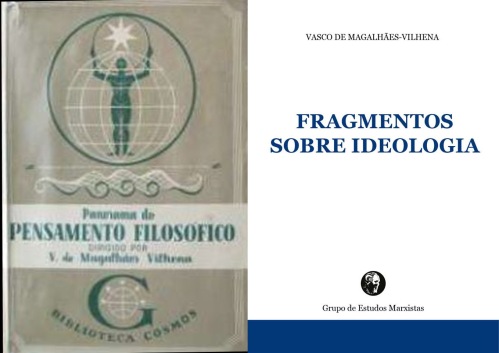A utopia necessária
 Por Luis Felipe Miguel.
Por Luis Felipe Miguel.
Em 2016, são comemorados os 500 anos da redação de A Utopia, de Thomas More. Verdadeiro best-seller
na sua época, o livro legou a nós uma palavra – o não lugar ou o lugar
feliz, graças à etimologia dupla presente nela – e também uma forma de
pensar. Participa da coincidência histórica que fez com que, em curto
espaço de tempo, no começo do século XVI, um conjunto de obras e eventos
redefinisse nossa compreensão da política: em 1513, com O príncipe,
Maquiavel assentou as bases do entendimento moderno e contemporâneo dos
dilemas envolvidos na relação entre moral e política. Em 1517, Martinho
Lutero realizou o gesto inaugural da reforma protestante, ao afixar
suas 95 teses sobre a venda de indulgências na porta da Catedral de
Wittenberg, desencadeando o processo que levaria à separação entre
Igreja e Estado, que é crucial para a política contemporânea e, em
particular, para a própria possibilidade da democracia.
A obra de
Thomas More apresenta outra faceta desta redefinição da política, ao
enfatizar os elementos de indefinição e de liberdade na maneira pela
qual homens e mulheres produzem sua vida em sociedade. Quando, na
segunda parte do livro, o narrador descreve um mundo organizado de forma
diferente, na Ilha de Utopia, o que ele está dizendo a seu público é
que a sociedade não precisa ser obrigatoriamente do jeito que é. Muitas
das instituições que More descreve parecem pouco atraentes para leitores
contemporâneos. Há excessivo controle sobre a vida privada, com escassa
liberdade individual. As relações entre os sexos eram
revolucionariamente simétricas para a época em que A Utopia foi
escrita, mas muito longe da igualdade que reivindicamos hoje. Existe
trabalho escravo, única maneira que o autor encontrou para resolver o
problema da escassez e do conflito distributivo. A despeito destes e de
outros problemas, a lição central do livro continua a falar a nosso
tempo.
Há alguns
anos, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman fez uma observação muito
pertinente sobre um paradoxo da sociedade contemporânea, ao menos da
sociedade ocidental: nós achamos que a questão da liberdade está
resolvida, isto é, que vivemos numa sociedade tão livre quanto é
possível. Mas, ao mesmo tempo, tendemos a crer que o mundo é do jeito
que é e nada, ou muito pouco, pode ser mudado. A “estrutura básica” da
sociedade – as relações sociais de produção, as formas de gestão do
poder político – está dada. Ou seja, somos livres, mas não podemos mudar
o curso do mundo.
Mas que liberdade é essa, em que a possibilidade de transformar o mundo está afastada?
O pensamento
utópico nos ensina o contrário. A primeira lição de Thomas More é que a
sociedade é organizada da forma que surge das interações entre as
mulheres e os homens que a compõem. Não é possível ver na organização
social um reflexo da vontade de deus (ou do mercado, que aqui cumpre a
mesma função). Ela é fruto da nossa vontade coletiva – o que inclui,
certamente, o fato de que algumas vontades têm hoje mais condições de se
impor do que outras. Mas se trata exatamente da possibilidade de
projetar uma organização social diferente, em que esse quadro seja
mudado.
É por isso
que é necessário um elemento utópico nas lutas pela transformação
social: a visualização de um mundo diferente, alimentada pela convicção
(que é correta, que é bem embasada) de que o mundo não está condenado a
permanecer do jeito que é.
Em parte da
tradição da esquerda, o utopismo guarda um sentido pejorativo. Marx e
Engels fizeram questão de diferenciar sua visão, “científica”, dos
socialismos anteriores, nos quais grudaram o adjetivo “utópico” para
marcá-los como irrealistas e infundados. Mas é possível entender de
outra forma, vendo a utopia como sendo (nas palavras do filósofo francês
André Gorz), “a visão de futuro sobre a qual uma civilização pauta seus
projetos, funda seus objetivos ideais e suas esperanças”. Se é assim, o
socialismo marxista também é utópico.
Como regra,
porém, a crítica à utopia costuma vir do pensamento conservador, que
nela vê ou uma evasão, ou, pior, uma inimiga da liberdade individual. Um
sociólogo alemão, Ralf Dahrendorf, sintetizou as críticas ao afirmar
que a utopia “é, pela natureza da ideia, uma sociedade totalitarista”. É
um julgamento que aparece também em obras clássicas do pensamento de
direita, como A sociedade aberta e seus inimigos, de Karl Popper, ou Anarquia, Estado e utopia,
de Robert Nozick. Ao descrever uma sociedade ideal, a utopia negaria
legitimidade a outros arranjos sociais. E ao descrever uma sociedade
perfeita, exigiria a adaptação total de cada um a ela, para que nada
trave seu mecanismo. A perfeição exige que o comportamento de todos seja
predizível, logo não pode ser livre.
A crítica ao
utopismo reflete, assim, duas ideias básicas do pensamento conservador.
Primeiro, que a liberdade humana se realiza de acordo com o modelo do
mercado, em que trocas autointeressadas levam a resultados
indeterminados e assimétricos. Depois, que é necessário tomar cuidado
com o racionalismo. A hunanidade deve evitar a ideia de que o
uso da razão pode levar à solução dos problemas da organização social.
Todos os grandes teóricos conservadores, do setecentista Edmund Burke ao
recente Michael Oakeshott, batem na mesma tecla: a razão é limitada.
Devemos nos apoiar na sabedoria da experiência, acumulada durante
gerações e cristalizada nas tradições e mesmo nos preconceitos. A utopia
aponta na direção inversa, propondo exatamente reinventar o mundo.
A crítica ao
caráter totalitário, feita pelo pensamento conservador, não é
inteiramente desprovida de sentido. Há experiências históricas terríveis
– da Revolução Cultural maoísta ao regime de Pol Pot, no Camboja – que
mostram os perigo de um voluntarismo absoluto, disposto a implantar um
novo mundo sem olhar para as circunstâncias ou para os custos humanos. A
ideia do “novo homem”, o ser humano aprimorado para um mundo
aprimorado, que emerge já nas utopias do Renascimento (mais do que em
More, na Cidade do Sol, de Tommaso Campanella), carrega um inegável perigo autoritário.
Mas é
igualmente autoritário congelar as pessoas e o mundo social naquilo que
são hoje, como se fossem inevitáveis e imutáveis. Recusar desta forma o
utopismo é, assim, negar legitimidade a qualquer alternativa ao já
existente e tentar eliminar da política o dever-ser. Nas palavras do
historiador polonês Bronisław Baczko, “a invenção utópica se mostra
cúmplice da invenção do espaço democrático. De fato, é apenas
com a invenção deste espaço que a sociedade se dá a representação de ser
fundada apenas sobre ela mesma, sobre sua ‘vontade’ livremente expressa
e fundadora de sua ordem. De pronto, este espaço se oferece como um
espaço social a modelar, a gerar, a reinventar”.
A narrativa
utópica afirma a sociedade humana como auto-instituída – regida por
normas que os homens e mulheres se deram e que, se quiserem, podem
alterar. As forças conservadoras tentam, ao contrário, indicar que o
mundo que temos é o único mundo possível. Em todo o projeto político
transformador, há, ao menos em germe, a visão de uma sociedade nova, que
ainda não existe em lugar nenhum. Sem isto, a humanidade estaria
condenada a permanecer com o já existente e a disputa política seria
reduzida à mera alocação de recursos.
in Boitempo. blog