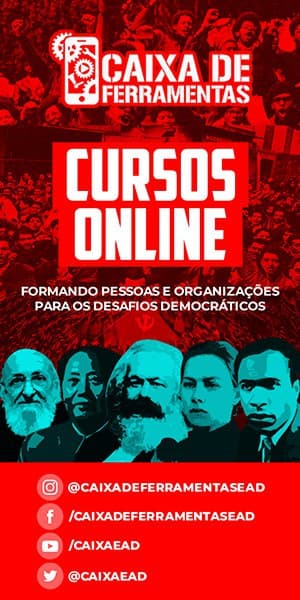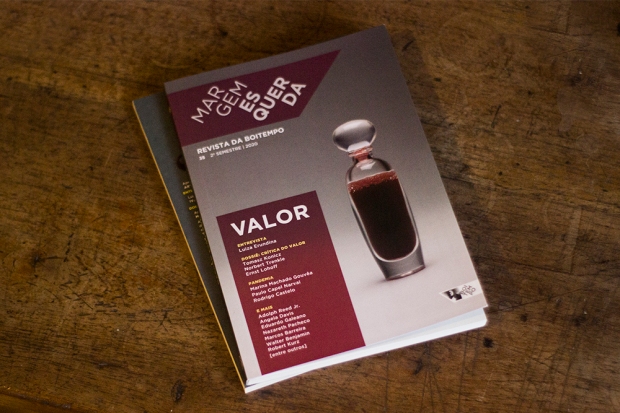Um dos mais importantes capítulos da tensão
entre marxismo e liberalismo, há várias décadas, desenrola-se ao redor
da agenda de direitos humanos, potencializada após a derrota do
nazifascismo. Ao contrário de ter se constituído em um contrato básico
para diferentes nações e sistemas, o confronto entre socialismo e
capitalismo a tornou uma narrativa em disputa, na qual os comunistas
largaram em vantagem, por seu desempenho no esmagamento do hitlerismo.
As democracias liberais tiveram que recuperar terreno nessa contenda,
sob o risco de uma depreciação cultural e moral que estimulasse a
irrupção de processos revolucionários. O pós-guerra, a partir de 1945,
colocou o campo imperialista, já sob a direção dos Estados Unidos,
diante de um tremendo desafio: como desgastar a enorme legitimidade
adquirida pela União Soviética no combate ao nazismo?
Essa batalha não poderia ser travada no terreno dos avanços sociais.
Tampouco na seara do desenvolvimento econômico, com as incríveis taxas
de crescimento da economia soviética de 1945 a 1960. Na comparação sobre
direitos das mulheres e luta contra o racismo, os Estados Unidos
passariam vergonha.
Corte ideológico
Aos poucos foi ganhando peso um conceito que salvaria os Estados imperialistas dessa enrascada perigosa: a ideia de totalitarismo,
trabalhada com maior refinamento pela filósofa Hannah Arendt. Na
contraposição à teoria marxista sobre luta de classes e imperialismo, a
famosa pensadora propunha como marca de corte a questão democrática,
cuja referência seria, em termos gerais, o sistema político-jurídico
fundado pelas revoluções burguesas e ampliado após o seu triunfo. A base
dessa abordagem seria a adoção de eleições diretas ou parlamentares,
liberdades políticas, pluralidade partidária, alternância de governo,
separação de poderes e respeito aos direitos individuais.
Os Estados deveriam ser divididos entre os que respeitavam esse
sistema e os que o violavam, constituindo-se em poderes autoritários,
tirânicos ou totalitários. Por esse critério, por exemplo, Estados
Unidos e Inglaterra estariam ao lado da democracia, enquanto a Alemanha
nazista e a União Soviética estariam de braços dados com o
totalitarismo. Hitler e Stalin seriam, segundo essa leitura, os dois
demônios do século XX.
A contradição principal da época, portanto, não seria entre
proletariado e burguesia, entre Estados colonizadores e povos
colonizados, entre imperialismo e socialismo, mas entre democracia e
ditadura, entre o “mundo livre” e os regimes totalitários.
Legitimidade imperialista
Arendt e seus pares talvez levassem ao pé da
letra essa teoria, mas os operadores políticos dos Estados imperialistas
a conduziram para propósitos mais funcionais. Ditaduras e tiranias que
estivessem a serviço do “mundo livre” deveriam ser acolhidas, desde que
comprometidas a fustigar o totalitarismo sobrevivente, o soviético, ao
mesmo tempo em que as nascentes democracias populares, aliadas a Moscou,
deveriam ser sufocadas até que perecessem.
Esse enfrentamento com o movimento comunista, porém, entre os anos 50
e 70, parecia estar longe de ser vitorioso. O fortalecimento do campo
socialista seguia adiante, com a vitória das revoluções chinesa, cubana e
nicaraguense, o triunfo dos vietnamitas contra os imperialismos francês
e norte-americano e a descolonização da África, entre outros
episódios.
Era tão escancarado o alinhamento da Casa Branca com tiranias
corruptas e antipopulares que a crítica ao socialismo real era percebida
como pura hipocrisia. Para que o axioma proposto por Hannah Arendt
passasse a ter maior eficácia, os Estados Unidos precisavam se livrar,
ao menos no hemisfério ocidental, da imagem vinculada a ditaduras
sanguinárias, particularmente na América Latina.
Por essa razão, na última metade dos anos 70, durante o governo de
Jimmy Carter, a Casa Branca começou a dar peso cada vez maior ao
discurso de direitos humanos, pressionando pelo fim de alguns regimes
militares e adotando políticas que pudessem reforçar a noção de “mundo
livre”, atribuída à economia de mercado e à democracia liberal.
Tratava-se de uma missão complexa, pois convivia com a continuidade da
Operação Condor, a autocracia monárquica da Arábia Saudita e o sustento
das tiranias centro-americanas. Tal discurso, afinal, não carregava a
intenção de eliminar ditaduras, mas o propósito de legitimar a ação
imperialista.
Essas políticas incluíam fundos a universidades e centros de
pesquisa, meios de comunicação e entretenimento, dentro e fora dos
Estados Unidos, para impulsionar abordagem supostamente humanista,
dando-lhe maior musculatura e repertório. Apesar do endurecimento
tático no período Reagan-Bush, entre 1980 e 1992 – marcado pela corrida
armamentista, a intervenção na Nicarágua, o envolvimento no Afeganistão e
a escalada contra o Irã dos aiatolás, entre outras passagens -, não
houve alterações relevantes na narrativa encorpada por Carter. Na
prática, foi transformada em uma doutrina imperialista, oferecendo
justificativas à violação da autodeterminação dos povos.
Defesa de minorias?
O retorno dos democratas à Casa Branca, com Bill
Clinton (1993-2000), significou novo impulso a essa embocadura,
fortalecida pelo desaparecimento da União Soviética. Na ordem mundial
unipolar que passaria a vigorar, os Estados Unidos assumiram o papel de
tribunal e polícia contra governos que rejeitassem sua dominação,
recorrendo inapelavelmente ao argumento de reação a distintas espécies
de totalitarismos.
As guerras contra a Iugoslávia, a última nação europeia sob governo
comunista, nos anos 90, foram emblemáticas dessa lógica. A pretexto da
defesa de minorias nacionais, Clinton ordenou à Organização do Tratado
do Atlântico Norte (OTAN), com a tradicional subserviência dos demais
Estados imperialistas, que fizesse desaparecer do mapa o último Estado
do velho continente que resistia, de algum modo, à restauração
capitalista e à incorporação no ordenamento hegemônico.
O caso iugoslavo é interessante porque demonstra que a doutrina
imperialista dos direitos humanos se abria para outros temas além das
liberdades formais, sobretudo a defesa de nacionalidades oprimidas,
sempre que isso fosse conveniente para os interesses norte-americanos.
Esse discurso, por exemplo, valia para os muçulmanos da Bósnia, mas
Israel jamais foi ameaçado por uma tempestade de bombas que fizesse o
sionismo recuar dos territórios palestinos ocupados desde 1967.
Outra novidade trazida pela cena pós-soviética, no roteiro imperialista, foi a disseminação de análises vinculadas ao choque de civilizações,
como enunciado na célebre obra de Samuel P. Huntington. Para esse autor
norte-americano, um conhecido conselheiro do regime de apartheid na
África do Sul, o confronto ideológico entre capitalismo e socialismo
fora substituído pelo conflito cultural entre o Ocidente capitalista e
democrático contra civilizações atrasadas, reconfigurando o pensamento
colonial do século XIX e disparando uma ampla agressão contra Estados
muçulmanos que resistiam à tutela do oeste imperial.
Neoliberalismo progressista
Com o colapso da URSS e o recuo do marxismo em
escala planetária, essa doutrina imperialista dos direitos humanos
começou a ganhar influência até mesmo em setores de esquerda. Na medida
em que o capitalismo se tornara invencível, afinal, o objetivo de sua
superação deveria ser trocado pela busca de uma regulação mais
inclusiva, ainda que nos termos propostos pelos cardeais do “mundo
livre”.
A esquerda tinha longa e arraigada tradição na defesa dos direitos
humanos, em todos os seus aspectos, das liberdades formais à luta contra
o racismo e pela igualdade de gênero, dos instrumentos democráticos às
reivindicações sociais e econômicas. A compreensão predominante, porém,
era que a realização desses direitos, em sua plenitude, seria dependente
da derrota do imperialismo em escala mundial e da superação do
capitalismo.
Não apenas esses direitos seriam limitados e condicionados, nas
sociedades capitalistas, como sua aplicação em Estados socialistas
poderia ser fortemente pressionada por sabotagens, sanções, bloqueios e
ações militares promovidos pelas potências imperialistas. Esse cenário
dava centralidade, portanto, ao combate contra o sistema comandado pela
Casa Branca, em uma orientação que deveria determinar todos os passos
dos movimentos revolucionários, incluindo as alianças com Estados e
partidos não-socialistas, mas objetivamente anti-imperialistas.
A troca da revolução pela inclusão modificou radicalmente esta
percepção entre forças progressistas, uma vez que substituía a lógica
anticapitalista por melhorias nos marcos ditados pelo pensamento
liberal, ainda que questionando constrangimentos, incongruências e
contradições.
Um momento emblemático foi o apoio ativo do primeiro-ministro
italiano Mássimo D’Alema, antigo dirigente do Partido Comunista Italiano
(PCI), aos bombardeios contra Belgrado, em 1999, com os aviões da OTAN
decolando da base aérea de Aviano. Seu argumento principal era de tirar
lágrimas dos olhos mais secos, tamanha a solidariedade com os albaneses
do Kosovo, ao lado de Clinton e Tony Blair, acusando o presidente
iugoslavo, Slobodan Milosevic, de promover uma “limpeza étnica”.
O humanismo passou a ser ancoradouro para os que
desacreditavam do marxismo e do socialismo. Na prática, conduziu antigos
agrupamentos, lideranças e intelectuais marxistas à hegemonia cultural
do liberalismo, da democracia ocidental e capitalista, ainda que lhes
permitindo funcionar, em certos momentos, como agentes críticos.
Associada a relevantes lutas sociais desde os anos 60, essa
possibilidade de influência sobre antigos setores de esquerda e camadas
médias mais ilustradas conduziu à agregação de uma terceira onda
temática na cartilha imperialista, depois da democracia
político-jurídica e da proteção às nacionalidades oprimidas. O novo
ciclo, aberto com Clinton, mas atingindo seu auge com Barack Obama,
absorveu narrativas do feminismo, da luta antirracista e do combate à
homofobia.
Esse adendo discursivo-programático, baseado em representatividade e
empoderamento, está muito longe de apresentar as chagas a que se refere
como fenômenos estruturais do capitalismo, especialmente nas nações
periféricas e de história colonial. Diversifica, no entanto, as
ferramentas de legitimação do imperialismo e neutralização de
contingentes que poderiam integrar alguma forma de oposição efetiva. A
filósofa norte-americana Nancy Fraser cunhou o termo “neoliberalismo
progressista” para retratar essa transmutação da hegemonia burguesa.
Materialismo ou pós-modernidade?
O caso do Afeganistão é bastante sintomático
sobre como funciona o humanismo imperialista. Ainda que a ocupação do
país pelas tropas norte-americanas, em 2001, seja explicada pelo
atentado da al-Qaeda ao World Trade Center, em setembro daquele ano, a
propaganda anterior e posterior à invasão revela o mecanismo cultural e
moral acionado pela Casa Branca. O fundamentalismo islâmico, outrora
aliado no combate à União Soviética e aos comunistas afegãos, passava a
ser apresentado, particularmente na versão praticada pelo Talibã, como
uma monstruosidade anticivilizatória, com destaque à brutalização contra
mulheres. As tropas mandadas por Washington, para os mais incautos,
teriam um papel libertador. Na pior das hipóteses, não fazia sentido
atuar decididamente contra essa invasão ocidental se a alternativa seria
um governo misógino, medieval e cruel.
A discussão sobre imperialismo quase desaparece, ao menos perde toda
centralidade nesse enfoque, para ser substituída por um debate moral
entre a selvageria do Talibã, mesmo que concretamente confrontado com o
imperialismo, e a civilização democrática-ocidental, ainda que
representada pelos atropelos militares da maior potência capitalista.
A mudança de agenda para o terreno dos direitos humanos, ainda que
não absolvesse os Estados Unidos, condenava pesadamente seus inimigos
nessa nação da Ásia Central. Como um empate, na batalha das ideias, é
melhor que uma derrota, a Casa Branca pôde passar vinte anos
satisfatoriamente tranquilos sobre a questão afegã, com uma resistência
internacional de baixa intensidade.
Claro que o barbarismo do Talibã merece todas as condenações, mas
fica desfalcada a análise sobre o conjunto da obra. Deve ser essa a
pedra angular pela qual se pode interpretar, de um ponto de vista
progressista, a situação no Afeganistão, como propõem os Estados Unidos e
seus áulicos?
Para começo de conversa, a invasão norte-americana, com a morte de 60
mil civis, e o estabelecimento de um governo títere representaram
alguma conquista importante para o povo e as mulheres do Afeganistão? Ou
apenas mais destruição e opressão, por conta de interesses da
superpotência e das corporações beneficiadas por lucrativos contratos?
Não foi exatamente a ação imperialista que legitimou o Talibã, apesar de
todos os crimes cometidos entre 1996 e 2001, como a principal
organização da guerra de libertação nacional, sustentada por amplos
setores da população, incluindo os que sofreram sob o regime dos mulás?
O fato é que a doutrina liberal dos direitos humanos, comprada por
vozes de esquerda nessas décadas de defensiva ideológica, tirou de
perspectiva a revogação do sistema imperialista, para oferecer uma
mensuração por sintomas de sofrimento. A misoginia do fundamentalismo
islâmico, por exemplo, de inegável crueldade, cancelaria o papel
anti-imperialista que poderia exercer o Talibã, porque o mal para as
mulheres que essa organização provocaria seria igual ou mais grave que
os danos impostos pela ocupação norte-americana.
O potencial emocional desse tipo de narrativa, em uma época na qual a
materialidade marxista se vê desafiada pela metafísica pós-moderna,
revela-se uma arma inestimável para os Estados Unidos controlarem, ao
menos parcialmente, focos de ira no Ocidente contra suas ações, ao
contrário do que ocorreu no passado, como na Guerra do Vietnã.
Claro que a opção marxista não pode significar renúncia à luta pelos
direitos humanos como programa dos povos. Ao contrário, a intensificação
desse combate ajuda a criar uma consciência emancipatória mais radical e
ampliada. Essa plataforma, no entanto, somente tem eficácia e
viabilidade se subordinada a uma concepção que estabeleça, como objetivo
estratégico, a supressão do neocolonialismo imposto pelos Estados
imperialistas e da ordem internacional que representam. Todos os
movimentos e Estados dispostos a romper com o imperialismo ou
combatê-lo, portanto, devem ser apoiados nesse âmbito de sua conduta,
ainda que mereçam a mais férrea oposição interna quando se tratem de
poderes dispostos a oprimir seu próprio povo.
Consenso bolchevique
Muito instigante, a esse respeito, uma antiga entrevista de Leon Trotsky, concedida a Mateo Fosa, em setembro de 1938:
“Existe atualmente no Brasil um
regime semifascista [Estado Novo, sob comando de Getúlio Vargas] que
qualquer revolucionário só pode encarar com ódio. Suponhamos,
entretanto, que a Inglaterra entre em conflito militar com o Brasil. Eu
pergunto a você: de que lado do conflito estará a classe operária? Eu
responderia: nesse caso eu estaria do lado do Brasil ‘fascista’ contra a
Inglaterra ‘democrática’. Por quê? Porque o conflito entre os dois
países não será uma questão de democracia ou fascismo. Se a Inglaterra
triunfasse, ela colocaria um outro fascista no lugar e fortaleceria o
controle sobre o Brasil. No caso contrário, se o Brasil triunfasse, isso
daria um poderoso impulso à consciência nacional e democrática do país e
levaria à derrubada da ditadura de Vargas. A derrota da Inglaterra, ao
mesmo tempo, representaria um duro golpe para o imperialismo britânico e
daria um grande impulso ao movimento revolucionário do proletariado
inglês.”
Nesse cenário hipotético, o revolucionário russo retoma a tradição
marxista, sem se deixar levar pela justa fúria contra a tirania e
compreendendo qual a contradição principal diante do ataque imperialista
a uma nação periférica. Sua posição não significava conciliação com o
governo Vargas durante o Estado Novo, mas uma análise arguta de como a
luta contra o imperialismo é a peça que move o jogo.
Ironicamente, a posição de Trotsky guarda similitude com a de seu
arquirrival no Partido Bolchevique, Josef Stalin, exposta em seu livro
“Sobre os fundamentos do leninismo”, originalmente publicado em 1924:
“Nas condições de opressão
imperialista, o caráter revolucionário do movimento nacional de modo
algum implica necessariamente na existência de elementos proletários no
movimento, na existência de um programa revolucionário ou republicano do
movimento, na existência de uma base democrática do movimento. A luta
do emir do Afeganistão pela independência de seu país é, objetivamente,
uma luta revolucionária, apesar das ideias monárquicas do emir e dos
seus adeptos, porque essa luta enfraquece, decompõe e mina o
imperialismo.”
Essa coincidência entre pensadores tão opostos revela como era
pacificada, no marxismo, a teoria da luta de classes e do imperialismo,
subordinando todos os demais aspectos e batalhas dos trabalhadores por
sua emancipação. Mais ainda, nos mostra como era intenso o esforço para
tratar os assuntos da realidade a partir de uma racionalidade
materialista e dialética, sem se deixar levar pelos fortes sentimentos
que emergem das barbáries cometidas nos processos históricos.
A doutrina liberal dos direitos humanos, um instrumento da dominação
imperialista, se presta exatamente a derrogar os alicerces do pensamento
marxista, por uma série de mecanismos que pasteurizem a lógica
revolucionária, limitando-a a um caleidoscópio de empatias fragmentadas e
aprisionando seu potencial nas fronteiras do velho sistema, desnutrindo
qualquer ameaça à ordem estabelecida pelos senhores do capital e da
guerra.
in Jacobin Brasil