Translate
domingo, 9 de abril de 2023
sábado, 8 de abril de 2023
Diálogo?
A guerra da Ucrânia, a subsequente manipulação dos povos europeus, isto é, a "opinião pública publicada", o funcionamento das "redes sociais de comunicação", as palestras de académicos e os seus congressos, as organizações internacionais putativamente baseadas em regras universais, os sucessivos apelos a valores não discutidos tais como "democracia" e "direitos humanos", vêm demonstrando é que em sociedades divididas em classes sociais e outros grupos antagónicos não é possível o diálogo racional. Os argumentos não são neutros ou transparentes para tornarem possível o consenso racional. Qualquer conversação que se inicia está condicionada por emoções, sentimentos introjectados, projeções sob a forma de indivíduos ou conceções que se odeiam ou temem, contrapostas a outras que se idolatram. Valores.Todo o diálogo é uma batalha ou uma conversa de surdos. Não é um jogo neutro submetido a regras consensuais. É um duelo que costuma acabar logo que começa.
De modo que ou nenhum dos contendores vence, ou então vence aquele que for mais forte. O grupo, a classe, o país, que detiver mais força em dado momento.
As exceções confirmam a regra. E o contrário é mero idealismo balofo ou manipulador.
sexta-feira, 7 de abril de 2023
Para quando Michael Hudson em português?
O colapso da antiguidade, novo livro de Michael Hudson
– A Grécia e Roma como ponto de viragem oligárquico da civilização
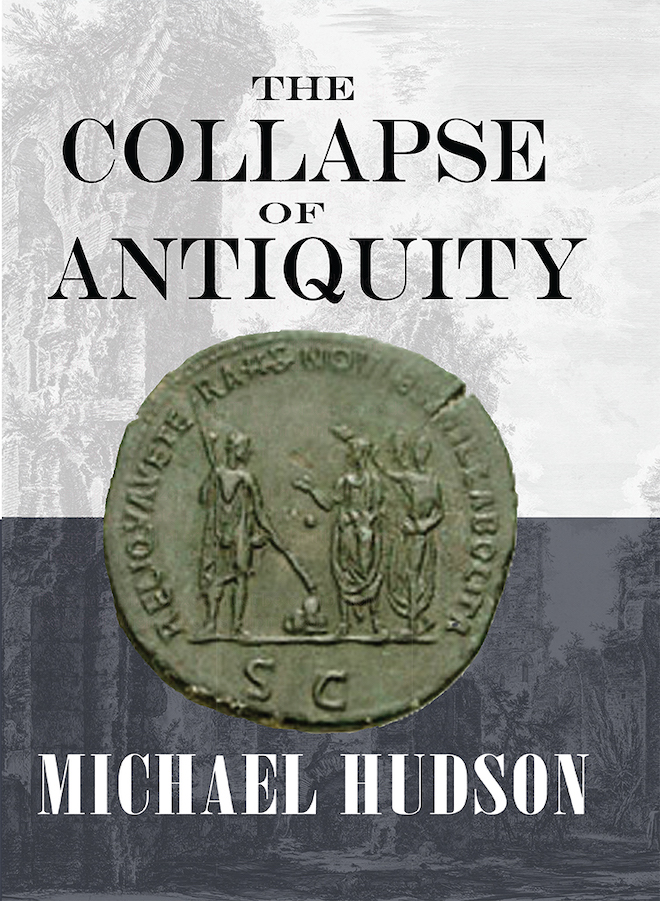
The Collapse of Antiquity, faz sequência a ...and Forgive Them Their Debts (...e perdoai-lhes as suas dívidas). Trata-se da última parte de uma trilogia sobre a história da dívida. Descreve como a dinâmica da dívida remunerada levou à ascensão de oligarquias rentistas na Grécia e Roma clássicas. Isto causou polarização económica, austeridade generalizada, revoltas, guerras e, por fim, o colapso de Roma em servidão e feudalismo. Esse colapso legou à subsequente civilização ocidental uma filosofia jurídica pró-credor, o que levou às oligarquias credoras de hoje.
Ao contar esta história, O colapso da antiguidade revela os paralelos sinistros entre o mundo romano em colapso e as atuais economias ocidentais sobrecarregadas de dívidas.
Menções
"Nesta obra monumental, Michael Hudson derruba aquilo que a
maioria de nós aprendeu sobre Atenas e Esparta, Grécia e Roma, César e
Cícero, de facto sobre reis e repúblicas. Ele expõe as raízes da
servidão (peonage) da dívida moderna e das crises na ganância e
violência dos oligarcas-credores da antiguidade, embutidas nas suas
leis, que acabaram por destruir as civilizações da antiguidade
clássica".
James K. Galbraith, autor de Welcome to the Poisoned Chalice: The Destruction of Greece and the Future of Europe (Bem-vindo ao cálice envenenado: A destruição da Grécia e o futuro da Europa).
"Neste livro fascinante, Hudson explora a ascensão das
oligarquias rentistas predadoras da Grécia e Roma clássicas. Ele
argumenta de forma fascinante e persuasiva que a armadilha da dívida
levou à destruição do campesinato, dos estados e, em última análise,
mesmo destas civilizações".
Martin Wolf, comentador económico principal do Financial Times.
"Michael Hudson é um economista clássico da velha escola do
século XIX que põe os factos à frente da teoria. Ler o seu novo livro, O Colapso da Antiguidade,
é aprender porquê e como se chegou a um mundo em que o dinheiro é dono
do povo, não das pessoas que possuem o dinheiro. A clareza do pensamento
de Hudson é como a água num deserto, a sua lição de história, portanto,
uma história triste que é uma alegria de ler".
Lewis Lapham, editor do Lapham's Quarterly.
Âmbito
O colapso da antiguidade é vasto na sua cobertura:
- a transmissão da dívida remunerada do Antigo Próximo Oriente para o mundo mediterrânico, mas sem a "válvula de segurança" dos cancelamentos reais periódicos da dívida, os Clean Slate (Perdão de Dívida), para restabelecer o equilíbrio económico e evitar o surgimento de oligarquias credoras;
- o surgimento de oligarquias credoras e fundiárias na Grécia e Roma clássicas;
- as crises e revoltas da dívida da antiguidade clássica, e a supressão, assassinato e fracasso final dos reformadores;
- o papel desempenhado pela ganância, luxúria monetária (dependência da riqueza) e arrogância, tal como analisado por Sócrates, Platão, Aristóteles e outros escritores antigos;
- o colapso do "Final dos Tempos" de Roma em servidão e legado oligárquico pró-credor que continua a moldar o Ocidente;
- a transformação do cristianismo, ao tornar-se a religião estatal de Roma, apoiando a oligarquia, abandonando os apelos originais e revolucionários dos primeiros cristãos para o cancelamento da dívida e mudando o significado do Pai Nosso e do "pecado", de um enfoque na esfera económica para a esfera pessoal do egoísmo individual;
- como a ideologia pró-credor distorce as recentes interpretações económicas da antiguidade, mostrando uma simpatia crescente para com as políticas oligárquicas de Roma.
Contracapa
O colapso de Roma foi o precursor das crises da dívida, da polarização económica e da austeridade causadas pelas oligarquias ocidentais subsequentes. As leis a favor dos credores do Ocidente e a ideologia herdada de Roma tornam inevitáveis repetidas crises de dívida, transferindo o controlo da propriedade e do governo para as oligarquias financeiras.
A grande transição da antiguidade clássica para o mundo moderno residiu na substituição da realeza não por democracias mas por oligarquias com uma filosofia jurídica pró-credora. Essa filosofia permite que os credores possam retirar riqueza, e por conseguinte, poder político, para as suas próprias mãos, sem ter em conta o restabelecimento do equilíbrio económico e da viabilidade a longo prazo, como ocorreu no Antigo Oriente Próximo através de Perdões de Dívida.
O legado de Roma à subsequente civilização ocidental é, portanto, a estrutura das oligarquias credoras e não a democracia no sentido de estruturas e políticas sociais que promovem a prosperidade generalizada.
22/Março/2023
Acerca da história da dívida ver também:
O original encontra-se em michael-hudson.com/2023/03/the-collapse-of-antiquity-release/
Esta nota encontra-se em resistir.info
Totalmente de acordo!
Um equívoco comum sobre o capitalismo
Prabhat Patnaik [*]

Há uma visão comum de que embora o capitalismo nas suas fases iniciais provoque desemprego, e portanto um agravamento da pobreza, este dano inicial é posteriormente revertido à medida que continua a crescer. Os desempregados são amplamente absorvidos dentro das fileiras do exército de trabalhadores no ativo e, com uma redução da taxa de desemprego, os salários começam a aumentar; e que aumentam de forma impressionante à medida que a produtividade laboral aumenta.
À primeira vista esta visão parece ser corroborada por evidências históricas: a pobreza na Grã-Bretanha é estimada pelo historiador marxista Eric Hobsbawm como tendo aumentado com o arranque do capitalismo industrial; mas certamente a partir de meados do século XIX as coisas mudaram para melhor no que diz respeito aos trabalhadores. Isto sugeriria que o capitalismo, independentemente das dificuldades transitórias que possa causar aos trabalhadores, é finalmente benéfico mesmo para eles.
Contudo, toda esta concepção está errada. Não há absolutamente nenhuma razão teórica para esperar que o capitalismo inverta os danos que inicialmente causa às condições materiais dos trabalhadores. A razão para a melhoria realmente observada nestas condições numa fase posterior nada tem a ver com qualquer tendência espontânea do capitalismo.
Esta ideia de que embora o capitalismo possa inicialmente prejudicar os trabalhadores e de que mais tarde melhora a sua condição, pode ser atribuída ao economista inglês David Ricardo, o qual avançou este argumento no contexto da introdução de maquinaria. Ele argumentou que tal introdução inicialmente desloca trabalhadores causando muitas dificuldades, mas ela eleva a taxa de lucro e portanto a taxa de acumulação de capital, razão pela qual os trabalhadores deslocados são reabsorvidos para o emprego. De facto, os trabalhadores no seu conjunto podem até ver uma melhoria nos seus salários se não se reproduzirem demasiado rapidamente e assim controlarem a taxa de crescimento da força de trabalho.
O argumento de Ricardo tem duas falhas óbvias. Primeiro, ele falava de introdução de maquinaria uma única vez; mas o capitalismo introduz as mais recentes máquinas e métodos de produção numa base contínua. Mesmo que aceitemos o seu argumento de que o efeito criador de desemprego de uma introdução de máquinas de uma só vez acabaria por se inverter através de uma maior taxa de acumulação de capital e portanto de uma maior taxa de crescimento da procura de mão-de-obra, esta eventual ocorrência nunca se concretiza, pois entretanto são introduzidas novas rondas de máquinas.
A questão tem, portanto, de ser analisada em termos dinâmicos. Se g é a taxa de crescimento do stock de capital e também da produção (assume-se que o rácio entre a produção e o stock de capital se mantém inalterado apesar do progresso técnico cujo principal efeito é supostamente uma redução do custo do trabalho) e p a taxa de crescimento da produtividade do trabalho, então a taxa de crescimento da procura de trabalho é g-p. Se esta for inferior à taxa natural de crescimento da mão-de-obra n, então a taxa de desemprego continuará a aumentar ao longo do tempo. Não há nada no funcionamento do capitalismo que faça o g-p exceder o n.
Naturalmente, alguns argumentariam em defesa de Ricardo que se a produtividade laboral continuasse a crescer enquanto a taxa de desemprego também continuasse a aumentar (de modo a que a taxa salarial permanecesse ligada a um nível de subsistência), então a taxa de lucro que poderia ser obtida a partir da produção continuaria a aumentar e que isso continuaria a pressionar em alta a taxa de acumulação até que a taxa de desemprego caísse significativamente. Mas é aqui que entra o segundo problema com o argumento de Ricardo, a saber: ele assume que nunca haveria uma restrição da procura sobre a realização da produção potencial e, portanto, sobre a taxa de lucro e a taxa de acumulação. Por outras palavras, ele assume que a Lei de Say – a qual afirma que "a oferta cria a sua própria procura" – é invariavelmente válida. Mas quando reconhecemos que existe um "problema de realização", que a taxa de lucro, que decorre da taxa salarial, em dadas condições de produção, não precisa de ser "realizada", e que a taxa de acumulação do stock de capital, e com ela a taxa de crescimento da procura de trabalho, não precisa de continuar a aumentar sem limites, então torna-se claro que não existe nenhum mecanismo dentro do capitalismo para reabsorver no exército de trabalhadores ativos todos aqueles que são deslocados pela sua contínua introdução de progresso técnico.
Ambos os pontos acima referidos haviam sido formulados por Marx em crítica à afirmação de Ricardo de que a introdução de maquinaria só teve um efeito negativo transitório sobre o nível de emprego e a condição dos trabalhadores. Uma vez tomados em consideração estes pontos, não há absolutamente nenhuma base teórica para a crença de que o capitalismo, embora inicialmente prejudicial ao emprego e à condição dos trabalhadores, acabe por melhorar o seu destino.
Como explicar, então, o indubitável facto histórico de que houve uma reviravolta nas condições de vida dos trabalhadores metropolitanos no decurso do desenvolvimento do capitalismo? A resposta aqui reside na emigração em grande escala de trabalhadores europeus para o "Novo Mundo" que ocorreu no decurso do que é chamado o "longo século XIX" (ou seja, o período até à Primeira Guerra Mundial). Entre o fim da guerra napoleónica e a Primeira Guerra Mundial, segundo o economista W. Arthur Lewis, cerca de cinquenta milhões de trabalhadores europeus migraram dos seus países de origem para outras regiões temperadas de povoamento branco, tais como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul.
Esta foi uma migração de "salários elevados", uma vez que os salários, tanto nos seus países de origem como nos seus países de destino, eram altos, em contraste com outra vaga de migração que estava a ocorrer simultaneamente. Esta segunda vaga era de países tropicais e semi-tropicais como a Índia e a China para outros países tropicais e semi-tropicais como as Fiji, as Maurícias, as Índias Ocidentais, a África Oriental e o Sudoeste dos Estados Unidos. Estes migrantes tropicais que faziam parte de uma migração de baixos salários não eram autorizados a deslocarem-se livremente para as regiões temperadas de colonização branca (ainda não o são até hoje).
Lewis explica esta diferença entre os fluxos migratórios de salários altos e baixos com a sugestão de que tinha havido uma revolução agrícola na Grã-Bretanha (a qual espalhara-se por outros lugares) que tinha elevado os rendimentos da população rural nos seus países de origem. Mas há muito pouca evidência de uma tal revolução agrícola. A razão real para os altos salários associados à primeira migração foi que os migrantes simplesmente tomaram à força as terras pertencentes à população tribal indígena e estabeleceram-se como agricultores com elevados níveis de rendimento, o que aumentou a taxa salarial tanto nos países de onde vieram como nos países para onde foram.
A escala desta migração de região temperada para região temperada foi muito grande: para a Grã-Bretanha, por exemplo, estima-se que entre 1820 e 1915 cerca de metade do aumento da população a cada ano acaba por emigrar. Isto em termos de escala seria análogo a cerca de 500 milhões de pessoas emigrarem para fora da Índia no período decorrido desde a independência. A possibilidade de migração numa tal escala não está hoje disponível para as pessoas do terceiro mundo. Mas é esta possibilidade de estar disponível para a população das metrópoles que explica a reviravolta na sorte dos trabalhadores europeus no século XIX. Não são as tendências espontâneas do capitalismo que explicam tal reviravolta, mas o facto de um grande segmento da população poder simplesmente migrar para o estrangeiro e, arrebatando as terras dos habitantes originais, estabelecer-se como agricultores razoavelmente abastados. A possibilidade de se apoderarem das terras dos habitantes originais surgiu devido ao fenómeno do imperialismo.
O imperialismo ajudou neste processo de reviravolta nas condições materiais de vida dos trabalhadores metropolitanos também de uma segunda forma. Mencionei acima que o sistema, sendo limitado pela procura, impede a reabsorção dos trabalhadores deslocados pela maquinaria. Mas uma limitação da procura pode ser quebrada através da venda de bens fabricados por máquinas a expensas dos produtores artesanais nas colónias e semi-colónias, como de facto aconteceu historicamente. Isto teria o efeito de reduzir ou manter baixo o nível de desemprego na metrópole. Na verdade, equivaleria realmente a uma exportação de desemprego da metrópole para as colónias e semi-colónias, as quais são impotentes para protegerem as suas economias de tais importações desindustrializantes porque são dominadas pelas metrópoles.
Daí resulta que, ao contrário da concepção errada de que o próprio capitalismo tende a ultrapassar os danos iniciais que ele inflige à população trabalhadora das metrópoles, é o fenómeno do imperialismo – o qual assegura tanto uma apropriação de terras em todo o mundo como uma exportação de desemprego para as colónias e semi-colónias –que está subjacente à viragem na sorte dos seus trabalhadores internos. Isto não deve ser entendido como significando que os trabalhadores da metrópole são cúmplices do projeto imperialista; é apenas a forma como o sistema funciona.
02/Abril/2023
[*] Economista, indiano, ver Wikipedia
O original encontra-se em peoplesdemocracy.in/2023/0402_pd/common-misconception-about-capitalism . Tradução de JF.
Este artigo encontra-se em resistir.info
quinta-feira, 6 de abril de 2023
(...) « a recente tradução para o português do livro Repensar Marx e os marxismos: guia para novas leituras, de autoria do pesquisador italiano Marcello Musto, professor da York University no Canadá. Dois livros de Musto já haviam sido publicados no Brasil: Trabalhadores, uni-vos!: antologia política da I Internacional, publicado também pela Boitempo e O velho Marx: Uma biografia de seus últimos anos (uma parceria da Boitempo e com a Fundação Perseu Abramo).
O conjunto de temas abordado por Repensar Marx e os marxismos
é amplo: dividido em dez capítulos, o livro abrange desde ensaios que
se ocupam de alguns momentos determinados da biografia e do pensamento
de Marx, como seus anos de juventude (capítulos 1 e 2), passando pelos
estudos de economia política e jornalismo na década de 1950 para o New-York Tribune (capítulo 4), chegando até o período de redação de O capital (capítulo 7). Há também dois capítulos dedicados à elaboração e posterior repercussão dos Grundrisse e de sua Introdução, famosos rascunhos preparatórios de O capital
(capítulos 5 e 6). Além disso, o leitor encontrará um debate sobre a
pertinência da oposição entre o chamado jovem Marx e o Marx da
maturidade (capítulo 3), debate que encontra desdobramentos na
investigação sobre o conceito de alienação (capítulo 8), desde sua
apropriação por Marx até as repercussões na sociologia e na filosofia
contemporâneas. Já o capítulo 9, “Evitar o capitalismo” discute a
primeira recepção de Marx na Rússia, ainda durante sua vida. O livro se
encerra no capítulo 10 com uma apresentação das novas descobertas da
MEGA² (MarxEngels-Gesamtausgabe), projeto editorial ainda em curso,
responsável pela publicação da obra integral de Marx e Engels. »(...)
Maurício Vieira Martins,
Marcello Musto e o golpe teórico de Marx
in Blog da Editora Boitempo, Brasil
Viagem à Polónia

Auschwitz: nele pereceram 4 milhôes de judeus. Depois dos nazis os genocídios continuaram por outras formas.
Viagem à Polónia

Auschwitz, Campo de extermínio. Memória do Mal Absoluto.

